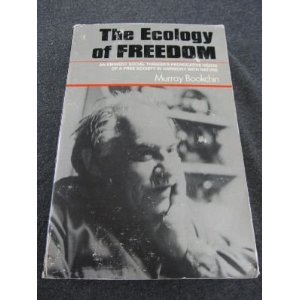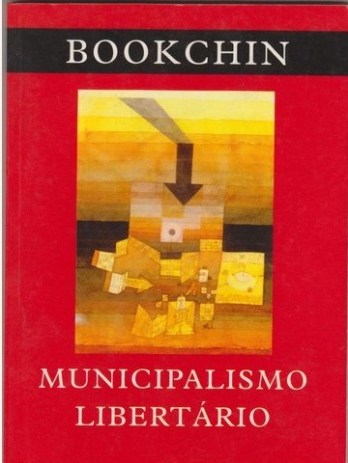Fonte: Protopia
- Murray Bookchin
|
«Um dos mais conhecidos panfletos de Murray Bookchin, Escuta, Marxista! visava predominantemente estudantes influenciados pelo Maoist Progressive Labor Party[1] que estava fortemente ativo (altamente destrutivo) no movimento de massa Estudantes para uma Sociedade Democrática nos Estados Unidos dos anos 1960 e 1970. Suas críticas ao “marxismo” e à terminologia marxista não são aplicáveis ao marxismo por inteiro, mas algumas se aplicam às políticas cruas do PLP. A despeito dessa significativa incompletude, reproduzimos o documento aqui devido a sua importância em termos de esquerda e de esquerda libertária nos EUA»
|
Toda a velha bobagem dos anos trinta está novamente de volta à besteira sobre a “linha de classe”, o “papel da classe trabalhadora”, o “revolucionário profissional treinado”, o “partido de vanguarda”, e a “ditadura do proletariado”. Tudo está de volta novamente, e de uma forma mais vulgarizada que nunca. O Maoist Progressive Labor Party não é o único exemplo, é somente o pior. Alguns cheiram à mesma besteira em vários descendentes da SDS[2], e nos clubes marxistas e socialistas em campi, sem falar nos grupos trotskistas, os Clubes da Internacional Socialista e a Juventude contra Guerra e Fascismo.
Nos anos trinta, isso ao menos era compreensível. Os Estados Unidos estavam paralisados por uma crise econômica crônica, a mais profunda e mais longa de sua história. As únicas forças vivas que pareceram estar batendo nos muros do capitalismo foram as grandes organizações dirigidas do CIO [Congresso de Organizações Industriais], com suas dramáticas greves sentadas, sua militância radical, e seus confrontos sangrentos com a polícia. A atmosfera política através do mundo inteiro estava carregada pela eletricidade da Guerra Civil Espanhola, a última das revoluções clássicas de trabalhadores, quando todo setor radical na esquerda americana podia se identificar com suas próprias colunas de milícia em Madri e Barcelona. Isso foi há trinta anos. Era um tempo em que qualquer um que gritasse “Faça amor, não guerra” seria tido como louco; o grito de então era “Faça empregos, não guerra”; o grito de uma idade atormentada pela escassez, quando o alcance do socialismo requeria “sacrifícios” e um “período de transição” para uma economia de abundância material. Para um jovem de dezoito anos em 1937 o próprio conceito de cibernética teria parecido com a mais fantástica ficção científica, uma fantasia comparável a visões de viagens espaciais. Aquele jovem de dezoito anos atingiu agora cinquenta anos de idade, e suas raízes estão fixadas em uma era tão remota a ponto de diferir qualitativamente das realidades do presente período nos Estados Unidos. O próprio capitalismo mudou desde então, introduzindo crescentes formas estratificadas que poderiam ser antecipadas somente obscuramente trinta anos atrás. E agora estão nos pedindo para voltarmos atrás para a “linha de classe”, as “estratégias”, os “revolucionários profissionais” e as formas organizacionais daquele distante período em quase óbvia ignorância dos novos assuntos e possibilidades que emergiram.
Quando diabos vamos criar finalmente um movimento que olhe para o futuro ao invés do passado? Quando começaremos a aprender do que está nascendo ao invés do que está morrendo? Marx, pelo seu crédito que perdura, tentou fazer isso no seu próprio tempo; ele tentou evocar um movimento futurista no movimento revolucionário dos anos 1840 e 1850. “A tradição de todas as gerações mortas pesa como um pesadelo no cérebro da viva”, ele escreveu em “O Dezoito Brumário de Luís Bonaparte”. “E quando elas parecem estar engajadas em revolucionar a si mesmas e as coisas, em criar algo inteiramente novo, precisamente em tais épocas de crise revolucionária, eles ansiosamente conjuram os espíritos do passado a seu serviço e pegam emprestado seus nomes, gritos de guerra e costumes para apresentar a nova cena da história do mundo nessa fantasia saudosista e linguagem emprestada. Assim como Lutero usou a máscara do Apóstolo Paulo, a revolução de 1789 a 1814 se vestiu alternativamente como a República Romana e o Império Romano, e a revolução de 1848 não soube nada mais que parodiar, por sua vez, 1789 e a tradição de 1793 a 1795… A revolução social do século dezenove não pode buscar sua poesia no passado, mas apenas no futuro. Ela não pode começar consigo mesmo antes de se ver sem toda superstição relativa ao passado… Para chegar ao seu conteúdo, a revolução do século dezenove tem de deixar os mortos enterrarem seus mortos. Lá a frase ia além do seu conteúdo, aqui o conteúdo vai além da frase”.
O problema é algo diferente hoje, quando chegamos ao século vinte? Mais uma vez os mortos estão caminhando entre nós – ironicamente, cobertos com o nome de Marx, o homem que tentou enterrar os mortos do século dezenove. Assim a revolução de nossos dias não pode fazer nada melhor que uma paródia, sucessivamente, da Revolução de Outubro de 1917 e da Guerra Civil de 1918-1920, com sua “linha de classe”, seu “Partido Bolchevique”, sua “ditadura do proletariado”, sua moralidade puritana, e até mesmo sua frase, “poder soviético”. A revolução completa, de todos os lados de nossos dias, pode finalmente resolver a “questão social”, “histórica”, nascida de escassez, dominação e hierarquia, segue a tradição das revoluções parciais, incompletas, de apenas um lado do passado, a qual meramente mudou a forma da “questão social”, substituindo um sistema de dominação e hierarquia por outro. Em uma época em que a própria sociedade burguesa está no processo de desintegrar todas as classes sociais que uma vez deram-lhe estabilidade, ouvimos as vazias exigências de uma “linha de classe”. Em uma época em que todas as instituições políticas da sociedade hierárquica estão entrando em um período de profunda decadência, ouvimos as vazias exigências de um “partido político” e um “estado dos trabalhadores”. Em uma época em que a hierarquia como tal está sendo trazida à discussão, ouvimos as vazias exigências de “revolucionários profissionais”, “vanguardas” e “líderes”. Em uma época em que centralização e estado têm sido trazidos ao mais explosivo ponto de negatividade histórica, ouvimos as vazias exigências de um “movimento centralizado” e um “ditadura do proletariado”.
Essa perseguição de segurança no passado, essa tentativa de encontrar em abrigo em um dogma fixo e em uma hierarquia organizacional como substitutos do pensamento e práticas criativas é uma triste prova de quão pouco tantos revolucionários são capazes de “revolucionar a si mesmos e as coisas”, muito menos do que revolucionar a sociedade como um todo. O conservadorismo profundamente enraizado dos “revolucionários” do PLP [3] é na maior parte dolorosamente evidente; o líder autoritário e a hierarquia substituem o patriarcado e a burocracia escolar; a disciplina do movimento substitui a disciplina da sociedade burguesa; o código autoritário de obediência política substitui o estado; a crença na “moralidade proletária” substitui as tradições de puritanismo e a ética de trabalho. A velha essência de sociedade exploradora reaparece em novas formas, coberta com uma bandeira vermelha, decorada com retratos de Mao (ou Castro ou Che) e adornada com o pequeno “Livro Vermelho” e outras ladainhas sagradas.
A maior parte das pessoas que permanecem no PLP hoje merecem isso. Se eles podem viver com um movimento que cinicamente dubla seus próprios slogans em fotografias de piquetes do DRUM[4]; se eles podem ler uma revista que pergunta se Marcuse é um “fujão ou um tira”; se eles podem aceitar uma “disciplina” que os reduz a autômatos programados e inexpressivos; se eles podem usar as técnicas mais repulsivas (técnicas pegas emprestadas da cloaca das operações de negócios burguesas e do parlamentarismo) para manipular outras organizações; se eles podem virtualmente parasitar cada ação e situação para meramente promover o crescimento de seu partido – mesmo que isso signifique serem derrotados pela própria ação – então eles estão abaixo de qualquer crítica. Para essas pessoas, para todos eles comunistas e atacá-los dizendo que são comunistas é uma forma de macarthismo ao contrário. Para parafrasear a viva descrição de Trótski sobre o stalinismo, eles são a sífilis do movimento jovem radical hoje. E para a sífilis há um único tratamento – um antibiótico, não um argumento.
Nossa preocupação aqui é com aqueles honestos revolucionários que se voltaram ao marxismo, leninismo ou trotskismo porque eles seriamente procuram uma perspectiva social coerente e uma estratégia eficiente de revolução. Nós também estamos preocupados com aqueles que são intimidados pelo repertório teórico da ideologia marxista e estão dispostos a ter interesse passageiro por alternativas mais sistemáticas. A essas pessoas nos dirigimos como irmãos e irmãs e pedimos uma discussão séria e uma ampla reavaliação. Acreditamos que o marxismo parou de ser aplicável à nossa época não porque é muito visionário ou revolucionário, mas porque não é visionário ou revolucionário o bastante. Acreditamos que ele nasceu em uma era de escassez e foi apresentado como uma brilhante crítica daquela era, especificamente do capitalismo industrial, e que uma era está nascendo, a qual o marxismo não abarca adequadamente e cujos contornos ele apenas parcialmente antecipou. Argumentamos que o problema não é “abandonar” o marxismo, ou “anulá-lo”, mas transcendê-lo dialeticamente, como Marx transcendeu a filosofia hegeliana, a economia ricardiana e as táticas e modos de organização blanquistas. Devemos argumentar que em um estágio mais avançado do capitalismo que aquele com que Marx lidou um século atrás, e em um estágio mais avançado de desenvolvimento tecnológico do que Marx jamais poderia ter claramente antecipado, uma nova crítica é necessária, a qual por sua vez produz novos modos de luta, ou organização, de propaganda e estilo de vida. Chame esses novos modos do que quiser. Escolhemos chamar essa nova abordagem pós-escassez de anarquismo, por várias forçadas razões que se tornarão mais evidentes nas páginas que seguem.
[editar]Os limites históricos do marxismo
A ideia de que um homem cujas grandes contribuições teóricas foram feitas entre 1840 e 1880 poderia “antever” a dialética inteira do capitalismo é, a julgar pela aparência, completamente absurda. Se ainda podemos aprender muito das compreensões de Marx, podemos aprender até mesmo mais dos erros inevitáveis de um homem que era limitado por uma era de escassez material e uma tecnologia que mal envolvia o uso da energia elétrica. Podemos aprender o quão diferente nossa própria era é daquela de toda história do passado, o quão qualitativamente novas são as potencialidades que nos confrontam, o quão únicas são as questões, análises e práticas que estão diante de nós se estamos para fazer uma revolução e não um outro aborto histórico.
O problema não é que o marxismo é um “método” que tem de ser reaplicado a “novas situações” ou que o “neo-marxismo” tem de ser desenvolvido para superar as limitações do “marxismo clássico”. A tentativa de resgatar a linhagem do marxismo enfatizando o método mais que o sistema ou acrescentar “neo” a uma palavra sagrada é pura mistificação se todas as conclusões práticas do sistema contradizem esses esforços.[5] Ainda hoje isso é precisamente o estado das coisas na exegese marxista. Os marxistas apoiam-se no fato de que o sistema provê uma brilhante interpretação do passado enquanto propositadamente ignora suas características completamente enganosas no lide com o presente e com o futuro. Eles citam a coerência que o materialismo histórico e a análise de classe dão à interpretação da história, as compreensões econômicas que o Capital provê dentro do desenvolvimento do capitalismo industrial, e a inteligência das análises de Marx das primeiras revoluções e das conclusões táticas que ele estabeleceu, sem outrora reconhecer que qualitativamente surgiram novos problemas que nunca existiram nos dias dele. É concebível que problemas históricos e métodos de análise de classe baseados inteiramente em uma escassez inevitável possa ser transportado para uma nova era de abundância em potencial? É concebível que uma análise econômica focada primariamente em um sistema “livremente competitivo” do capitalismo industrial possa ser transferida para um sistema gerenciado de capitalismo, onde estado e monopólios unem-se para manipular a vida econômica? É concebível que um repertório estratégico e tático formulado em período em que aço e carvão constituíam a base da tecnologia industrial possam ser transferidos para uma época baseada novas fontes de energia radicalmente novas, na eletrônica e na cibernação?
Como resultado dessa transferência, um corpo teórico que era libertador um século atrás torna-se uma camisa de força hoje. Pedem-nos para focar na classe trabalhadora como o “agente” da mudança revolucionário no momento em que o capitalismo visivelmente antagoniza e produz revolucionários virtualmente em todos os estratos da sociedade, particularmente entre os jovens. Pedem-nos para guiarmos nossos métodos táticos por uma visão de uma “crise econômica crônica”, apesar do fato de que tal crise esteve iminente nos últimos trinta anos.[6] Pedem-nos para aceitar uma “ditadura do proletariado” – um longo “período de transição” cuja função não é meramente a supressão de contrarrevolucionário, mas, acima de tudo o desenvolvimento de uma tecnologia de abundância – em um período em que uma tecnologia de abundância está ao alcance da mão. Pedem-nos para orientarmos nossas “estratégias” e “táticas” entre pobreza e miséria material em um período em que o sentimento revolucionário está sendo gerado pela banalidade da vida sob condições de abundância material. Pedem-nos para estabelecer partidos políticos, organizações centralizadas, hierarquias e elites “revolucionárias”, e um novo estado em um período em que instituições políticas como tais são decadentes e em que centralismo, elitismo e o estado estão sendo trazidos à tona em uma escala que nunca ocorreu antes na história da sociedade hierárquica.
Pedem-nos, em suma, para retornar ao passado, para diminuir ao invés de crescer, para forçar a palpitante realidade de nossos tempos, com nossas esperanças e promessas, aos decadentes preconceitos de uma idade ultrapassada. Pedem-nos para operar com princípios que foram ultrapassados não apenas teoricamente, mas pelo próprio desenvolvimento da sociedade. A história não estancou desde Marx, Engels, Lênin e Trótski morreram, nem seguiu a direção simplista que foi traçada pelos pensadores – mesmo que brilhantes – cujas mentes ainda tem raízes no século XIX ou nos primeiros anos do XX. Vimos o próprio capitalismo realizar muitas das tarefas (incluindo o desenvolvimento de uma tecnologia de abundância) que eram tidas como socialistas; vimos-no “nacionalizar” a propriedade, fundir a economia com o estado sempre que necessário. Vimos a classe trabalhadora neutralizada como o “agente da mudança revolucionária”, embora ainda lutando com uma estrutura burguesa por mais salário, menos horas e pequenos benefícios. A luta de classes no sentido clássico não desapareceu; ela teve um destino pior sendo cooptada pelo capitalismo. A luta revolucionária dentro dos países de capitalismo avançado tornou-se historicamente um novo terreno: ela tornou-se uma luta entre uma geração de jovens que não conheceram crise econômica crônica, e a cultura, valores, e instituições de uma geração mais antiga e conservadora cujas perspectivas de vida foram moldadas pela escassez, culpa, renúncia, o trabalho ético e a busca de segurança material. Nossos inimigos não são somente a burguesia visivelmente entrincheirada e o aparato estatal, mas também uma perspectiva que encontra seu apoio entre liberais, social-democratas, os subordinados de uma mídia de massa corrupta, os partidos “revolucionários” do passado, e, doloroso como possa ser para os acólitos do marxismo, o trabalhador dominado pela hierarquia da fábrica, pela rotina industrial, e pela ética do trabalho. A questão é que as divisões agora virtualmente suprimem todas as linhas de classe tradicionais e levantam um espectro de problemas que nenhum dos marxistas, baseando-se em analogias com sociedades da escassez, poderia prever.
[editar]O mito do proletariado
Coloquemos de lado todos os fragmentos ideológicos do passado e olhemos para as raízes teóricas do problema. Para a nossa época, a maior contribuição de Marx ao pensamento revolucionário é sua dialética do desenvolvimento social. Marx desnudou o grande movimento desde o comunismo primitivo através da propriedade privada até o comunismo na sua mais elevada forma – uma sociedade comunal apoiada em uma tecnologia libertadora. Nesse movimento, de acordo com Marx, o homem passa da dominação do homem pela natureza para a dominação do homem pelo homem, e finalmente à dominação da natureza pelo homem[7] e da dominação social dela. Dentro desta dialética maior, Marx examina a dialética do próprio capitalismo – um sistema social que constitui o último “estágio” histórico na dominação do homem pelo homem. Aqui, Marx não somente faz profundas contribuições ao pensamento revolucionário contemporâneo (particularmente em sua brilhante análise da relação da mercadoria), mas também exibe as limitações de tempo e lugar que têm um papel tão restritivo em nossa própria época.
A mais séria dessas limitações emerge da tentativa de Marx de explicar a transição do capitalismo para o socialismo, de uma sociedade de classes para uma sociedade sem classes. É vitalmente importante enfatizar que essa explicação tinha origem quase que inteiramente na analogia com a transição do feudalismo para o capitalismo – isto é, de uma sociedade de classes para outra sociedade de classes, de um sistema de propriedade para outro. Do mesmo modo, Marx aponta que assim como a burguesia desenvolveu-se dentro do feudalismo como resultado da cisão entre cidade e campo (mais precisamente, entre ofício e agricultura), assim o proletariado moderno desenvolveu-se dentro do capitalismo como resultado do avanço da tecnologia industrial. Ambas as classes, disseram-nos, desenvolveram interesses sociais próprios – de fato, interesses sociais revolucionários que as lançam contra a antiga sociedade na qual foram geradas. Se a burguesia obteve controle sobre a vida econômica muito antes de destruir a sociedade feudal, o proletariado, por sua vez, obtém seu próprio poder revolucionário pelo fato de ser “disciplinado, unido, organizado” pelo sistema da fábrica.[8] Em ambos os casos, o desenvolvimento de forças produtivas torna-se incompatível com o sistema tradicional de relações sociais. “O revestimento está rompido”. A nova sociedade é substituída pela nova.
A questão crítica com que nos deparamos é a seguinte: podemos explicar a transição de uma sociedade de classes para uma sociedade sem classes através da mesma dialética que considera a transição de uma sociedade de classes para outra? Esse não é um problema teórico que envolve o julgamento de abstrações lógicas, mas um assunto muito real e concreto para nossa época. Há diferenças profundas entre o desenvolvimento da burguesia sob o feudalismo e o desenvolvimento do proletariado sob o capitalismo que Marx ou falhou por antecipar ou nunca encarou claramente. A burguesia controlava a vida econômica muito antes de tomar o poder estatal; ela tornou-se a classe dominante material, cultural e ideologicamente, antes de afirmar sua dominação política. O proletariado não controla a vida econômica. A despeito de seu papel indispensável no processo industrial, a classe trabalhadora industrial não é nem mesmo a maioria da população, e sua posição econômica estratégica está diminuindo pela cibernação e outros avanços tecnológicos.[9] Por isso, é preciso um ato de alta consciência para o proletariado usar seu poder para alcançar uma revolução social. Até agora, o alcance dessa consciência foi bloqueado pelo fato de que o meio da fábrica é uma das mais entrincheiradas arenas da ética do trabalho, de sistemas hierárquicos de gestão, de obediência a líderes, e, em tempos recentes, de produção empenhada a mercadorias supérfluas e armamentos. A fábrica não serve apenas para “disciplinar”, “unir” e “organizar” os trabalhadores, mas também para fazê-lo de um modo completamente burguês. Na fábrica, a produção capitalista não apenas renova as relações sociais do capitalismo com cada dia de trabalho, como observou Marx, ela ainda renova a psique, ideias, valores e ideologias do capitalismo.
Marx percebeu suficientemente esse fato para procurar razões mais fortes que o mero fato da exploração ou que conflitos sobre salários e horas de trabalho para impulsionar o proletariado à ação revolucionária. Em sua teoria geral de acumulação capitalista, ele tentou delinear as severas e objetivas leis que forçam o proletariado a assumir um papel revolucionário. Do mesmo modo, ele desenvolveu sua famosa teoria da imiseração: a competição entre capitalistas leva-os a diminuir os preços dos outros, o que, por sua vez, leva a uma contínua redução de salários e ao absoluto empobrecimento dos trabalhadores. O proletariado é compelido a se revoltar porque, com o processo de competição e de centralização do capital, “cresce a massa de miséria, opressão, escravidão e degradação”.[10]
Mas o capitalismo não estancou desde os tempos de Marx. Escrevendo em meados do século XIX, não se pode esperar que Marx compreendesse todas as consequências de seus entendimentos sobre a centralização do capital e o desenvolvimento da tecnologia. Não se pode esperar que ele tivesse previsto que o capitalismo se desenvolveria não somente do mercantilismo para a forma industrial dominante de seu tempo – dos monopólios comerciais ajudados pelo Estado para unidades industriais altamente competitivas – mas mais, que com a centralização do capital, o capitalismo retornasse às suas origens mercantilistas em um nível mais alto de desenvolvimento e reassumisse a forma monopolista com ajuda estatal. A economia tende a se fundir com o Estado e o capitalismo começa a “planejar” seu desenvolvimento, ao invés de deixá-lo exclusivamente para a interação de competição das forças do mercado. Para estar seguro, o sistema não abole a luta de classes tradicional, mas manobra para contê-la, usando seus imensos recursos tecnológicos para assimilar as partes mais estratégicas da classe trabalhadora.
Assim, o impulso inteiro da teoria da miséria é diminuído e, nos Estados Unidos, a luta de classes tradicional falha em se tornar a guerra de classes. Ela permanece inteiramente dentro de dimensões burguesas. O marxismo, na verdade, torna-se uma ideologia. É assimilado pelas mais avançadas formas de movimento de Estado capitalista –particularmente a Rússia. Por uma ironia incrível da história, o “socialismo” marxista torna-se, em grande parte, o verdadeiro Estado capitalista que Marx não conseguiu antecipar na dialética do capitalismo.[11] O proletariado, ao invés de desenvolver-se como uma classe revolucionária dentro do ventre do capitalismo, torna-se um órgão dentro do corpo da sociedade burguesa.
A pergunta que devemos fazer neste recente momento da história é se uma revolução social que pretende alcançar uma sociedade sem classes pode emergir de um conflito entre classes tradicionais em uma sociedade de classes, ou se tal revolução social pode emergir somente da decomposição das classes tradicionais, realmente da emergência de uma “classe” inteiramente nova cuja verdadeira essência é que ela é uma não-classe, um crescente estrato de revolucionários. Na tentativa de responder essa questão, podemos aprender mais retornando à dialética mais ampla que Marx desenvolveu para a sociedade humana como um todo do que do modelo que ele pegou emprestado da passagem da sociedade feudal para a capitalista. Assim como os clãs de consanguinidade começaram a se dividir em classes, em nossos dias há uma tendência de as classes se decomporem em subculturas inteiramente novas que têm semelhança com formas não capitalistas de relacionamentos. Elas não mais são grupos econômicos estritamente; refletem, na verdade, a tendência do desenvolvimento social transcender as categorias econômicas da sociedade da escassez. Elas constituem, com efeito, uma pré-formação crua e ambígua do movimento da sociedade da escassez para a da pós-escassez.
O processo da decomposição de classe tem de ser entendido em todas as suas dimensões. A palavra “processo” tem de ser enfatizada aqui: as classes tradicionais não desaparecem, nem a luta de classe. Somente uma revolução social pode remover a estrutura da classe prevalecente e as causas do conflito. A questão é que a luta de classes tradicional deixa de ter implicações revolucionárias; ela se revela como a fisiologia da sociedade prevalente, não como as dores de trabalho de parto. Na realidade, a luta de classes tradicional estabiliza a sociedade capitalista “corrigindo” seus abusos (em salários, horas de trabalho, inflação, emprego etc.). Os sindicatos, na sociedade capitalista, constituem um “contramonopólio” em relação aos monopólios industriais e são incorporados à economia estatizada neomercantil como um Estado. Dentro desse Estado, há conflitos maiores ou menores, mas, tomados como um todo, os sindicatos fortalecem o sistema e servem para perpetuá-lo.
Reforçar essa estrutura de classe tagarelando sobre o “papel da classe trabalhadora”, reforçar a luta de classes tradicional dando-lhe um caráter “revolucionário”, infectar o novo movimento revolucionário de nossa época com “trabalhite” é tornar o núcleo reacionário. O quão frequentemente as doutrinas marxistas têm de ser lembradas que a história da luta de classes é a história de uma doença, das feridas abertas pela famosa “questão social”, do desenvolvimento monofacetado do homem na tentativa de obter controle sobre a natureza e dominar seu companheiro homem? Se o efeito colateral dessa doença foi avanço tecnológico, os efeitos principais foram repressão, um horrível derramamento de sangue humano e uma aterrorizante distorção da psique humana.
À medida que a doença se aproxima de seu fim, que a ferida começa a curar em seus mais profundos recônditos, o processo agora se desdobra em direção à totalidade; as implicações revolucionárias da luta de classes tradicional perdem seu significado como construções teóricas e como realidade social. O processo de decomposição envolve não somente a estrutura tradicional de classes, mas também a família patriarcal, modos autoritários de aceitação, a influência da religião, as instituições do Estado, e as tradições construídas ao redor de trabalho, renúncia, culpa e sexualidade reprimida. O processo de desintegração, em suma, agora se torna generalizado e virtualmente afeta todas as classes, valores e instituições. Ele cria questões inteiramente novas, modos de luta e formas de organização e chamadas para uma abordagem inteiramente nova à teoria e prática.
O que isso significa concretamente? Deixe-nos contrastar duas abordagens, a marxista e a revolucionária. A doutrina marxista teria nos mostrado o trabalhador – ou melhor, “entrado” na fábrica – e feito proselitismo a ele em “preferência” a qualquer outra pessoa. O objetivo? Formar a “consciência de classe” do trabalhador. Para citar os exemplos mais neandertais da velha esquerda, corta-se o cabelo, arruma-se em roupas esportivas convencionais, troca-se maconha por cigarros e cerveja, dança-se convencionalmente, aparentam-se maneirismos rudes, e se desenvolve uma aparência sem humor, inexpressiva e jactanciosa.[12]
Essa pessoa torna-se, em resumo, o trabalhador em sua pior caricaturização: não um “burguês trivial degenerado”, verdade, mas um burguês degenerado. Essa pessoa torna-se uma imitação do trabalhador na medida em que o trabalhador é uma imitação de seus mestres. Sob a metamorfose do estudante para o “trabalhador” se esconde um cinismo depravado. Essa pessoa tenta usar a disciplina inculcada pelo ambiente da fábrica para disciplinar o trabalhador para o ambiente do partido. Essa pessoa tenta usar o respeito do trabalhador pela hierarquia industrial para ligar o trabalhador à hierarquia partidária. Esse processo lamentável, que, se bem-sucedido, pode levar somente à substituição de uma hierarquia por outra, é alcançado pela preocupação fingida com as reivindicações econômicas cotidianas do trabalhador. Mesmo a teoria marxista é degradada para concordar com essa imagem falsificada do trabalhador. (Veja quase toda cópia do Challenge – o National Enquirer da esquerda. Nada chateia mais o trabalhador do que esse tipo de literatura.) No final, o trabalhador é inteligente o suficiente para saber que obterá melhores resultados na luta de classes cotidiana através de sua burocracia sindical que através de uma burocracia partidária marxista. Os anos quarenta revelaram isso tão dramaticamente que, em um ou dois anos, com apenas algum protesto de seus membros, os sindicatos conseguiam expulsar milhares de “marxistas” que fizeram os trabalhos pioneiros por mais de uma década, até mesmo ascendendo à liderança da velha CIO internacional.
O trabalhador torna-se um revolucionário não tornando-se mais um trabalhador, mas desfazendo seu “trabalhidade”[13]. E nisso ele não está sozinho; o mesmo se aplica ao fazendeiro, ao soldado, ao burocrata, ao profissional – e ao marxista. O trabalhador não é menos um “burguês” que o fazendeiro, o estudante, o caixeiro, o soldado, o burocrata, o profissional – e que o marxista. Sua “trabalhidade” é a doença de que ele sofre, a aflição social encaixada em dimensões individuais. Lênin entendeu isso em Que fazer?, mas ele o introduzir na velha hierarquia sob uma bandeira vermelha e alguma verborreia revolucionária. O trabalhador começa a tornar-se revolucionário quando desfaz sua “trabalhidade”, quando vem a detestar seu status de classe aqui e agora, quando começa a largar exatamente essas características que o marxismo mais preza nele – sua ética de trabalho, sua estrutura de caráter derivada da disciplina industrial, seu respeito pela hierarquia, sua obediência a líderes, seu consumismo, seus vestígios de puritanismo. Nesse sentido, o trabalhador torna-se um revolucionário no grau em que larga seu status de classe e alcança uma consciência de não classe. Ele degenera – e ele degenera magnificamente. O que ele está abandonando são precisamente aquelas amarras de classe que o ligam a todos os sistemas de dominação. Ele abandona esses interesses de classe que o escravizam ao consumismo, à vida suburbana e uma visão mercantil da vida.[14]
O desenvolvimento mais promissor nas fábricas hoje em dia é a emergência dos jovens trabalhadores que fumam maconha, estão se fodendo para seus trabalhos, entram e saem das fábricas, deixam o cabelo crescer, exigem mais lazer ao invés de mais salários, roubam, acossam todas as figuras de autoridade, vão a greves não aprovadas pelo sindicato e incitam seus companheiros trabalhadores. Ainda mais promissora é a emergência desse tipo humano nas escolas vocacionais[15] e ensino médio, o suprimento da classe trabalhadora industrial por vir. Ao nível que trabalhadores, estudantes vocacionais e estudantes de ensino médio ligam seus estilos de vida a vários aspectos da cultura anárquica jovem, nesse nível o proletariado será transformado de uma força de conservação da ordem estabelecida para uma força revolucionária.
Uma situação qualitativamente nova emerge quando o homem enfrenta a transformação de uma sociedade de classes repressiva, baseada na escassez material, para uma sociedade sem classes libertadora, baseada na abundância material. Da decomposição da estrutura tradicional de classes, um novo tipo humano é criado em números sempre crescentes: o revolucionário. Esse revolucionário começa a desafiar não somente as premissas econômicas e políticas da sociedade hierárquica, mas a hierarquia em si. Ele não somente levanta a necessidade de uma revolução social, mas também tenta viver de uma maneira revolucionária no nível em que isso é possível na sociedade existente.[16] Ele não apenas ataca as formas criadas pelo legado de dominação, mas também improvisa novas formas de libertação que tomam sua poesia do futuro.
Essa preparação para o futuro, essa experimentação com formas libertadoras pós-escassez de relações sociais pode ser ilusória se o futuro envolve uma substituição de uma sociedade de classe por outra; é indispensável, contudo, se o futuro envolve uma sociedade sem classes construída nas ruínas de uma sociedade de classes. O que, então, será o “agente” da mudança revolucionária? Ela será literalmente a grande maioria da sociedade, retirada de todas as diferentes classes tradicionais e fundida em uma força revolucionária comum pela decomposição das instituições, formas, valores e estilos sociais da estrutura de classes prevalente. Tipicamente, seus elementos mais avançados são a juventude – uma geração que não conheceu crise econômica crônica e que está se tornando menos e menos orientada ao mito de segurança material tão disseminado entre a geração dos anos trinta.
Se é verdade que a revolução social não pode ser alcançada sem o apoio ativo ou passivo dos trabalhadores, não é menos verdade que ela não pode ser alcançada sem o apoio ativo ou passivo dos agitadores, técnicos e profissionais. Acima de tudo, uma revolução social não pode ser alcançada sem o apoio da juventude, da qual a classe dominante recruta suas forças. Se a classe dominante retém seu poder armado, a revolução está perdida, não importam quantas greves de trabalhadores em seu apoio sejam feitas. Isso foi vividamente demonstrado não somente pela Espanha dos anos trinta, mas pela Hungria dos anos cinquenta e pela Tchecoslováquia dos anos sessenta. A revolução de hoje – pela sua própria natureza, de fato, por sua perseguição da totalidade – conquista não somente o soldado e o trabalhador, mas a própria geração da qual soldados, trabalhadores, técnicos, fazendeiros, cientistas, profissionais e até mesmo burocratas foram recrutados. Descartando os manuais revolucionários do passado, a revolução do futuro segue o caminho de menor resistência, seguindo seu caminho nas áreas mais suscetíveis da população, independentemente de sua “posição de classe”. Ela é nutrida por todas as contradições na sociedade burguesa, não somente pelas contradições da década de 1860 e de 1917. Assim, ela atrai todos aqueles que sentem o peso da exploração, pobreza, racismo, imperialismo e, sim, aqueles cujas vidas são frustradas por consumismo, vida suburbana, a mídia de massa, a família, a escola, o supermercado e o sistema prevalente de sexualidade reprimida. Aqui a forma da revolução torna-se tão total quanto seu conteúdo – sem classe, sem propriedade, sem hierarquia, e totalmente libertadora.
Cambalear nesse desenvolvimento revolucionário com as receitas gastas do marxismo, tagarelar sobre uma “divisão de classes” e o “papel da classe trabalhadora”, corresponde a uma subversão do presente e do futuro pelo passado. Elaborar essa entediante ideologia tagarelando sobre “revolucionários profissionais”, um “partido de vanguarda”, “centralismo democrático” e a “ditadura do proletariado” é pura contrarrevolução. É a esse assunto da “questão organizacional” – essa contribuição vital do leninismo ao marxismo – a que devemos dar agora alguma atenção.
[editar]O mito do partido
Revoluções sociais não são feitas por partidos, grupos ou profissionais, elas ocorrem como resultado de forças históricas profundamente assentadas e contradições que ativam amplos setores da população. Elas não ocorrem meramente porque as “massas” consideram a sociedade existente intolerável (como argumentou Trótski), mas também por causa da tensão entre o real e o possível, entre o que é e o que poderia ser. Extrema miséria, por si só, não produz revoluções; mais frequentemente, ela produz uma desmoralização sem propósito, ou, pior, uma luta privada e pessoal pela sobrevivência.
A Revolução Russa de 1917 pesa nas mentes dos vivos como um pesadelo, porque ela foi produto amplamente de “condições intoleráveis”, de uma guerra imperialista devastadora. Quaisquer sonhos que ela tivesse foram virtualmente destruídos por uma guerra civil ainda mais sangrenta, pela fome e pela traição. O que emergiu da revolução foram as ruínas não de uma antiga sociedade, mas de quaisquer esperanças existentes de alcançar uma nova. A Revolução Russa falhou miseravelmente; ela substituiu o czarismo pelo Estado capitalista.[17] Os bolcheviques foram as trágicas vítimas de sua própria ideologia e pagaram com suas vidas em grande número durante os expurgos dos anos trinta. Tentar obter alguma sabedoria única dessa revolução da escassez é ridículo. O que podemos aprender das revoluções do passado é o que todas as revoluções têm em comum e suas profundas limitações comparadas às enormes possibilidades que agora nos estão abertas.
O aspecto mais notável das revoluções do passado é que elas começaram espontaneamente. Examinar as fases iniciais da Revolução Francesa de 1789, as revoluções de 1848, a Comuna de Paris, a revolução de 1905 na Rússia, a deposição do czar em 1917, a Revolução Húngara de 1956 ou a greve geral na França em 1968 mostra que os estágios iniciais são geralmente os mesmos: um período de agitação explode espontaneamente em uma insurreição de massa. Se a insurreição é bem-sucedida ou não, depende de sua determinação e de se as tropas são aceitas pelo povo.
O “partido glorioso”, quando há um, quase que invariavelmente ri por trás dos eventos. Em fevereiro de 1917, a organização dos bolcheviques de Petrogrado opôs-se à convocação de greves precisamente na véspera da revolução que estava destinada a destituir o czar. Felizmente, os trabalhadores ignoraram as “diretivas” bolcheviques e fizeram a greve. Nos eventos que se seguiram, ninguém estava mais surpreso com a revolução que os partidos “revolucionários”, incluindo os bolcheviques. Como o líder bolchevique Kayurov lembrou: “Absolutamente nenhuma iniciativa diretiva do partido foi sentida… o comitê de Petrogrado foi preso e o representante do Comitê Central, Camarada Shliapnikov, não podia dar nenhuma diretiva para o dia seguinte”. Talvez tenha sido sorte. Antes do comitê de Petrogrado ser detido, sua avaliação da situação e seu próprio papel foram tão ineptos que, tivessem os trabalhadores seguido suas ordens, é duvidoso que a revolução tivesse ocorrido quando ocorreu.
O mesmo tipo de história pode ser contada sobre as insurreições que antecederam 1917 e aquelas que se seguiram – para citar somente a mais recente, a insurreição e greve geral na França durante maio e junho de 1968. Há uma conveniente tendência de se esquecer que perto de uma dezena de organizações bolcheviques “fortemente centralizadas” existiam em Paris naquele tempo. É raramente mencionado que virtualmente todos desses grupos de “vanguarda” desdenharam da insurreição estudantil de 7 de maio, quando as lutas intensamente estouraram nas ruas. A trotskista Jeunesse Communiste Révolutionnaire [Juventude Comunista Revolucionária] foi uma notável exceção – e saiu-se somente bem, essencialmente seguindo as iniciativas do Movimento 22 de Março.[18] Em 7 de maio, todos os grupos maoístas criticaram a insurreição estudantil, caracterizando-a como periférica e não importante; a trotskista Fédération des Etudiants Révolutionnaires [Federação dos Estudantes Revolucionários] a considerou “aventurosa” e tentou fazer com que os estudantes saíssem das barricadas em 10 de maio; o Partido Comunista, claro, teve um papel completamente traiçoeiro. Longe de liderar o movimento popular, os maoístas e trotskistas foram seus cativos do começo ao fim. Ironicamente, a maioria desses grupos bolcheviques usavam vergonhosamente técnicas manipuladoras na assembleia estudantil na Sorbonne, em uma tentativa de “controlá-la”, introduzindo uma atmosfera disruptiva que desmoralizava o grupo inteiro. Finalmente, para completar a ironia, todos esses grupos bolcheviques puderam tagarelar sobre a necessidade de uma “liderança centralizada” quando o movimento popular colapsou – um movimento que ocorreu apesar de suas “diretivas” e geralmente em oposição a elas.
Revoluções e insurreições dignas de qualquer nota não têm uma fase inicial que seja magnificamente anárquica, mas também tendem a criar espontaneamente suas próprias formas de autogestão revolucionária. As seções parisienses de 1793-94 eram as mais notáveis formas de autogestão a serem criadas por qualquer uma das revoluções sociais na história.[19] Mais familiar na forma eram os conselhos ou “sovietes” que os trabalhadores de Petrogrado estabeleceram em 1905. Apesar de menos democráticos que as seções, os conselhos iriam reaparecer em várias revoluções posteriores. Ainda outra forma de autogestão revolucionária eram os comitês de fábricas que os anarquistas estabeleceram na Revolução Espanhola de 1936. Finalmente, as seções reapareceram como assembleias estudantis e comitês de ação na insurreição de maio e junho e na greve geral de 1968 em Paris.[20]
Neste momento, temos de questionar que papel o partido “revolucionário” exerce em todos esses desenvolvimentos. No começo, como vimos, ele tende a uma função inibitória, não um papel de “vanguarda”. Onde exerce influência, tende a desacelerar o fluxo dos eventos, não “coordenar” as forças revolucionárias. Isso não é acidental. O partido é estruturado em camadas hierárquicas que refletem a mesma sociedade a que eles professam se opor. Apesar de suas pretensões teóricas, é um organismo burguês, um Estado em miniatura, com um aparato e um profissional cuja função é conquistar o poder, não dissolver o poder. Enraizado no período pré-revolucionário, ele assimila todas as formas, técnicas e mentalidade da burocracia. Seus membros são treinados para obedecer e para os preconceitos de um dogma rígido e é ensinado a sempre reverenciar a liderança. A liderança do partido, por sua vez, é treinada em hábitos de comando, autoridade, manipulação e egocentrismo. Essa situação é piorada quando o partido participa das eleições parlamentares. Nas campanhas eleitorais, o partido de vanguarda se modela completamente nas formas burguesas existentes e adquire até mesmo a parafernália do partido eleitoral. A situação assume proporções realmente críticas quando o partido obtém muitos correligionários, sedes custosas, e um grande inventário de periódicos controlados centralizadamente, e desenvolve um “aparato” pago – em resumo, uma burocracia com interesses materiais explícitos.
À medida que o partido cresce, a distância entre liderança e as fileiras invariavelmente aumentam. Seus líderes não somente tornam-se “personalidades”, eles perdem contato com a situação de vida abaixo de si. Os grupos locais, que conhecem melhor sua situação imediata própria que qualquer líder afastado, são obrigados a subordinar suas compreensões a diretivas superiores. A liderança, carecendo de qualquer conhecimento direto de problemas locais, responde lenta e prudentemente. Mesmo assim, ela exalta a “visão ampla”, a grande “competência teórica”, a competência da liderança tende a diminuir à medida que se ascende na hierarquia de comando. Quanto mais se chega ao nível no qual são tomadas as decisões reais, mais conservadora é a natureza do processo de tomada de decisão, mais burocráticos e alheios são os fatores que estão em jogo, mais considerações de prestígio e economia suprimem a criatividade, imaginação e uma dedicação desinteressada por objetivos revolucionários.
Quanto mais o partido procura eficiência por meio de hierarquia, profissionais e centralização, menos eficiente ele fica de um ponto de vista revolucionário. Apesar de todos marcharem conforme a música, as ordens estão normalmente erradas, especialmente quando os eventos começam a se suceder rapidamente e tomam contornos inesperados – como acontece em todas as revoluções. O partido é eficiente em apenas um quesito – moldar a sociedade à sua própria imagem hierárquica se a revolução obtém sucesso. Ele recria a burocracia, a centralização e o Estado. Ele fomenta a burocracia, a centralização e o Estado. Ele fomenta as condições sociais genuínas que justificam esse tipo de sociedade. Desse modo, ao invés de “desaparecer”, o Estado controlado pelo “partido glorioso” preserva as mesmas condições que “necessitavam” da existência de um Estado – e de um partido para “preservá-lo”.
Por outro lado, esse tipo de partido é extremamente vulnerável em períodos de repressão. A burguesia tem apenas de prender sua liderança para destruir o movimento por inteiro. Com seus líderes na prisão ou no exílio, o partido torna-se paralisado; os membros obedientes não têm a quem obedecer e tendem a se atrapalhar. A desmoralização chega rapidamente. O partido se decompõe não somente por causa da atmosfera repressiva, mas também por causa de sua pobreza de recursos internos.
A história a seguir não é uma série de inferências hipotéticas, é um esquete misto de todos os partidos de massa marxistas do século passado – os social-democratas, os comunistas e o partido trotskista do Ceilão (o único partido de massa desse tipo). Afirmar que esses partidos falharam em levar seus princípios marxistas a sério somente esconde outra questão: em primeiro lugar, por que ocorreu esse fracasso? O fato é que esses partidos foram cooptados pela sociedade burguesa porque eram estruturados em modelos burgueses. A semente da traição existia neles desde o nascimento.
O Partido Bolchevique foi poupado dessa sina entre 1904 e 1917 unicamente por uma razão: era uma organização ilegal durante a maior parte dos anos que antecederam a revolução. O partido estava sendo continuamente rachado e reconstituído, resultando que, até tomar o poder, nunca realmente se solidificou como uma máquina centralizada, burocrática e hierárquica. Além disso, ele foi rachado por facções; a intensa atmosfera faccionária persistiu por todo o ano de 1917, até durante a guerra civil. Contudo, a liderança bolchevique era, como é comum, extremamente conservadora, um traço contra o qual Lênin teve de lutar durante 1917 – primeiro em seus intentos de reorientar o Comitê Central contra o governo provisório (o famoso conflito sobre as “Teses de Abril”), depois guiando o Comitê Central à insurreição em outubro. Em ambos os casos, ele ameaçou renunciar ao Comitê Central e levar suas visões para “fileiras inferiores do partido”.
Em 1918, disputas faccionárias sobre a questão do tratado de Brest-Litovsk[21] quase provocou a cisão em dois partidos comunistas rivais. Grupos bolcheviques rivais como os Centralistas Democráticos e a Oposição Operária promoveram severas brigas dentro do partido em 1919 e 1920, sem falar dos movimentos rivais que se desenvolveram dentro do Exército Vermelho sobre a inclinação de Trótski pela centralização. A completa centralização do Partido Bolchevique – a realização da “unidade leninista”, como foi chamada posteriormente – não ocorreu até 1921, quando Lênin promoveu a persuasão para banir facções no décimo congresso do Partido. Por essa época, a maior parte do Exército Branco tinha sido vencida e os intervencionistas estrangeiros tinham retirado as tropas da Rússia.
Não pode ser muito fortemente enfatizado que os bolcheviques tenderam a centralizar seu partido ao nível de ficarem isolados da classe trabalhadora. Esse relacionamento foi raramente investigado em círculos leninistas posteriores, mesmo que Lênin fosse honesto o suficiente para admiti-lo. A história da Revolução Russa não é meramente a do Partido Bolchevique e seus apoiadores. Por trás da aparência dos eventos oficiais descritos pelos historiadores soviéticos havia outro desenvolvimento, mais básico – o movimento espontâneo dos trabalhadores e camponeses revolucionários, que depois entraram fortemente em choque com as políticas burocráticas dos bolcheviques. Com a deposição do czar em fevereiro de 1917, os trabalhadores estabeleceram espontaneamente comitês de fábricas em praticamente todas elas, fazendo valer direitos nas operações industriais. Em junho de 1917, uma conferência de comitês de fábricas de toda a Rússia teve lugar em Petrogrado e demandou a “organização através do controle do trabalho sobre a produção e distribuição”. As reivindicações dessa conferência são raramente mencionadas em relatos leninistas da Revolução Russa, apesar do fato de ela ter se alinhado aos bolcheviques. Trótski, que descreve os comitês de fábricas como “a mais direta e indubitável representação do proletariado no país inteiro”, aborda-os superficialmente em sua extensa história da revolução. Tão importantes eram esses organismos espontâneos de autogestão que Lênin, desesperado em ganhar os sovietes no verão de 1917, estava preparado para mudar o slogan “Todo o poder para os sovietes” por “Todo o poder para os comitês de fábricas”. Essa reivindicação teria lançado os bolcheviques a uma posição completamente anarcossindicalista, mesmo que seja duvidoso que tivessem continuado assim por muito tempo. Com a Revolução de Outubro, todos os comitês de fábrica tomaram o controle das plantas, expulsando os burgueses e tomando controle completo da indústria. Ao aceitar o conceito de controle dos trabalhadores, o famoso decreto de Lênin de 14 de novembro de 1917 meramente tomou conhecimento de um fato consumado; os bolcheviques não ousaram se opor aos trabalhadores nesse momento inicial. Mas eles começaram a tirar poder dos comitês de fábricas. Em janeiro de 1918, dois meses depois de “decretar” o controle dos trabalhadores, Lênin começava a defender que a administração das fábricas fosse posta sob o controle dos sindicatos. A história de que os bolcheviques experimentaram o controle operário “pacientemente”, somente para achá-lo “ineficiente” e “caótico”, é um mito. Sua “paciência” não durou mais que algumas semanas. Não somente Lênin opôs-se ao controle direto dos trabalhadores em uma questão de semanas depois de decreto de 14 de novembro, mas até mesmo o controle dos sindicatos chegou ao fim brevemente depois de ter sido estabelecido. Pelo verão de 1918, quase toda a indústria russa tinha sido colocada sob formas de gestão burguesas. Como Lênin colocou, a “revolução exige… precisamente nos interesses do socialismo que as massas obedeçam inquestionavelmente a única vontade dos líderes do processo de trabalho”.[22] Consequentemente, o controle operário foi denunciado não somente como “ineficiente”, “caótico” e “impráticável”, mas também como “trivialmente burguês”! Osinsky, da esquerda comunista, atacou asperamente todas essas reivindicações falsas e avisou o Partido: “Socialismo e organização socialista devem ser estabelecidos pelo próprio proletariado, ou não estabelecidos; outra coisa será estabelecer um Estado capitalista” Sob os “interesses do socialismo”, o Partido Bolchevique tirou do proletariado todo domínio que este tinha conquistado por suas próprias forças e iniciativas. O Partido não coordenou a revolução, ou a guiou; ele a dominou. Primeiro o controle operário e depois o controle sindical foram substituídos por uma hierarquia elaborada, tão monstruosa quanto qualquer estrutura que existia em tempos pré-revolucionários. Como os tempos seguintes demonstraram, a profecia de Osinsky tornou-se realidade.
O problema de “quem deve prevalecer” – os bolcheviques ou as “massas” russas – não era de modo algum limitado pelas fábricas. O assunto reapareceu tanto no campo quanto nas cidades. Uma ampla guerra camponesa manteve o movimento dos trabalhadores com apoio. Ao contrário dos relatos oficiais de Lênin, a insurreição agrária não foi de modo algum limitada a uma redistribuição da terra em lotes privados. Na Ucrânia, camponeses influenciados pelas milícias anarquistas de Nestor Makhno e guiados pela máxima comunista “de cada um de acordo com suas possibilidades; para cada um de acordo com suas necessidades”, estabeleceu muitas comunas rurais. Alhures, no norte e na Ásia Soviética, alguns milhares desses organismos foram estabelecidos, parcialmente na iniciativa dos Revolucionários da Esquerda Social e em larga escala como resultado dos impulsos coletivistas tradicionais que vinham das aldeias russas, o mir[23] Pouco importa se essas comunas eram numerosas ou abarcavam grande número de camponeses; a questão é que eram organismos populares autênticos, os núcleos de uma moral e espírito social que ficava muito acima dos valores desumanizantes da sociedade burguesa.
Os bolcheviques viam com desagrado esses organismos desde o começo e, por fim, os condenaram. Para Lênin, a forma de empreendimento agrícola preferida, a mais “socialista” estava representada pela fazenda estatal – uma fábrica agrícola na qual o Estado possuía a terra e os equipamentos, indicando gerentes que contratavam camponeses a um salário base. Vê-se nessas atitudes em relação ao controle operário e às comunas agrícolas essencialmente o espírito e a mentalidade burguesa que permeavam o Partido Bolchevique – espírito e mentalidade que não provieram somente de suas teorias, mas também de seu modo corporativo de organização. Em dezembro de 1918, Lênin lançou um ataque contra as comunas, com o pretexto de que os camponeses estavam sendo “forçados” a ingressar nelas. Na realidade, pouca, se não nenhuma coerção era usada para organizar essas formas comunistas de autogestão. Como Robert G. Wesson, que estudou as comunas soviéticas detalhadamente, conclui: “Aqueles que ingressavam em comunas tinham de tê-lo feito de sua própria vontade”. As comunas não foram suprimidas, mas seu crescimento foi desencorajado até que Stálin desapareceu com o desenvolvimento por inteiro nas coletivizações forçadas no fim dos anos vinte e início dos trinta.
Pela década de 1920, os bolcheviques isolaram-se da classe trabalhadora e campesinato russos. Tomadas juntas, a eliminação do controle operário, a supressão do Makhnovtsy[24], a atmosfera politicamente restritiva no país, a burocracia inflada e a esmagadora pobreza material herdada dos anos de guerra civil geraram uma profunda hostilidade ao comando bolchevique. Com o fim das hostilidades, um movimento surgiu das profundezas da sociedade russa para uma “terceira revolução” – não para restaurar a passada, como reivindicavam os bolcheviques, mas para realizar os verdadeiros objetivos de liberdade, tanto econômica como política, que reuniram as massas ao redor do programa bolchevique de 1917. O novo movimento encontrou sua forma mais consciente no proletariado de Petrogrado entre os marinheiros de Kronstadt. Ele também encontrou expressão no Partido: o crescimento de tendências anticentralistas e anarcossindicalistas entre os bolcheviques chegou a um ponto em que um bloco de grupo de oposição, favorável a essas questões, conquistou cento e vinte e quatro assentos na conferência provincial de Moscou, contra cento e cinquenta e quatro do Comitê Central.
Em 2 de março de 1921, os “marinheiros vermelhos” de Kronstadt se amotinaram, levantando a bandeira de uma “Terceira Revolução dos Troilers[25]”. O programa de Kronstadt centrava-se em demandas de eleições livres para os sovietes, liberdade de expressão e de imprensa para os anarquistas e partidos da esquerda socialista, sindicatos livres, e a libertação de todos os prisioneiros que pertencessem a partidos socialistas. As histórias mais vergonhosas eram fabricadas pelos bolcheviques para relatar essa insurreição, conhecidas em anos posteriores como mentiras descaradas. A revolta era caracterizada como uma “conspiração do Exército Branco”, apesar do fato de que a grande maioria dos membros do Partido Comunista em Kronstadt se juntou aos marinheiros – precisamente como comunistas – ao denunciar os líderes do partido como traidores da Revolução de Outubro. Como observa Robert Vincent Daniels em seu estudo dos movimentos oposicionistas bolcheviques: “Comunistas comuns eram de fato tão inconfiáveis… que o governo não contava com eles, seja no próprio ataque a Kronstadt ou na manutenção da ordem em Petrogrado, onde as esperanças de Kronstadt por apoio especificamente se depositavam. O principal grupo de tropas empregadas eram chekistas[26] e cadetes oficiais das escolas de treinamento do Exército Vermelho. O ataque final a Kronstadt foi liderado pelo funcionalismo superior do Partido Comunista – um grupo grande de delegados do Décimo Congresso do Partido foi deslocado para esse propósito”. Tão fraco era o regime internamente que a elite tinha de fazer ela mesma seu próprio trabalho sujo.
Ainda mais significativo que a revolta de Kronstadt foi o movimento grevista que se desenvolveu entre os trabalhadores de Petrogrado, um movimento que estimulou a insurreição dos marinheiros. Histórias leninistas não contam esse desdobramento criticamente importante. As primeiras greves estouraram em 23 de fevereiro de 1921. Em uma questão de dias, o movimento varreu fábrica após fábrica, até, em 28 de fevereiro, a famosa planta Putilov – o “bastião da Revolução” – entrou em greve. Não foram somente feitas exigências econômicas, os trabalhadores fizeram distintas exigências políticas, antecipando todas as exigências que seriam feitas pelos marinheiros de Kronstadt alguns dias depois. Em 24 de fevereiro, os bolcheviques declararam “estado de sítio” em Petrogrado e prenderam os líderes grevistas, suprimindo as manifestações dos “trabalhadores” com cadetes oficiais. O fato é que os bolcheviques não apenas suprimiram um “motim de marinheiros”; eles esmagaram a própria classe trabalhadora. Foi nesse momento que Lênin demandou o banimento de facções no Partido Comunista Russo. A centralização do Partido agora estava completa – e o caminho estava aberto para Stálin.
Discutimos esses eventos em detalhe porque eles levaram à conclusão de que o grupo recente de marxistas-leninistas tende a evitar: o Partido Bolchevique atingiu seu grau máximo de centralização no tempo de Lênin, não para lograr uma revolução ou suprimir a contrarrevolução do Exército Branco, mas para gerar uma contrarrevolução própria contra as verdadeiras forças sociais que ele professava representar. Facções foram proibidas e um partido monolítico criado não para evitar uma “restauração capitalista”, mas para conter um movimento de massas de trabalhadores pela democracia soviética e liberdade social. O Lênin de 1921 encontrava-se oposto ao Lênin de 1911.
Depois disso, Lênin simplesmente se perdeu. Esse homem que, acima de tudo, queria esconder os problemas de seu partido sob contradições sociais, encontrou-se literalmente apostando em um “jogo de azar” em uma última tentativa de parar a própria burocratização que ele havia criado. Não há nada mais patético e trágico que os últimos anos de Lênin. Paralisado por um grupo simplista de fórmulas marxistas, ele não pode pensar em nenhuma contramedida que não fosse organizacional. Ele propõe a formação de Inspeções de Operários e Camponeses para corrigir reformas burocráticas no Partido e no Estado – e esse grupo rui sob o controle de Stálin e torna-se altamente burocrático por si mesmo. Lênin então sugere que o tamanho das Inspeções de Operários e Camponeses seja reduzido e que ele seja unido à Comissão de Controle. Ele defende aumentar o Comitê Central. E assim vai: esse grupo é aumentado, aquele é juntado a outro, um terceiro é modificado ou abolido. O estanho balé de formas organizacionais continua até sua morte, como se o problema pudesse ser resolvido por meios organizacionais. Como Mosche Lewin, um admirador confesso de Lênin, admite, o líder bolchevique “abordou os problemas de governo mais como um chefe executivo de um pensamento estritamente ‘elitista’”. Ele não aplicou métodos de análise social ao governo e ficou satisfeito em considerá-lo puramente em termos de métodos organizacionais”.
Se é verdade que nas revoluções burguesas a “expressão ia além do conteúdo”, na revolução bolchevique as formas substituíram o conteúdo. Os sovietes substituíram os trabalhadores e seus comitês de fábricas, o Partido substituiu os sovietes, o Comitê Central substituiu o Partido, e o Departamento Político substituiu o Comitê Central. Em suma, meios substituíram fins. Essa incrível substituição de forma por conteúdo é um dos traços mais característicos do marxismo-leninismo. Na França, durante os eventos de maio e junho, todas as organizações bolcheviques estavam preparadas para destruir a assembleia estudantil da Sorbonne para aumentar sua influência e número de membros. Sua preocupação principal não era a revolução ou as formas sociais autênticas criadas pelos estudantes, mas o crescimento de seus próprios partidos.
Somente uma força poderia ter parado o crescimento da burocracia na Rússia: uma força social. Tivesse o proletariado e o campesinato russos o domínio de autogestão através do desenvolvimento de comitês de fábricas viáveis, comunas rurais e sovietes livres, a história do país talvez sofresse uma alteração dramaticamente diferente. Não pode haver dúvidas de que o fracasso das revoluções socialistas na Europa depois da Primeira Guerra Mundial levou ao isolamento da revolução na Rússia. A pobreza material da Rússia, juntamente com a pressão do mundo capitalista, claramente militou contra o desenvolvimento de uma sociedade socialista ou consistentemente libertária. De modo algum foi determinado que a Rússia tivesse de desenvolver-se com contornos de estado capitalista; ao contrário das expectativas iniciais de Lênin e Trótski, a revolução foi derrotada por forças internas, não pela invasão dos exércitos estrangeiros. Tivesse o movimento restaurado a partir de baixo as realizações da Revolução de 1917, um estrutura social multifacetada poderia ter se desenvolvido, baseada no controle operário da indústria, em uma economia de livre desenvolvimento camponês na agricultura, e em uma viva interação de ideias, programas e movimentos políticos. No mínimo, a Rússia não teria sido aprisionada em correntes totalitaristas e o stalinismo não teria envenenado o movimento revolucionário, abrindo caminho para o fascismo e a Segunda Guerra Mundial. O desenvolvimento do Partido Bolchevique, contudo, impediu esse desenvolvimento – apesar das “boas intenções” de Lênin e Trótski. Destruindo o poder dos comitês de fábricas na indústria e esmagando o Makhnovtsy, os trabalhadores de Petrogrado e os marinheiros de Kronstadt, os bolcheviques garantiram virtualmente o triunfo da burocracia na sociedade russa. O partido centralizado – uma instituição completamente burguesa – tornou-se refúgio da contrarrevolução em sua forma mais sinistra. Essa foi uma contrarrevolução coberta que se vestia com a bandeira vermelha e a terminologia de Marx. Por último, o que os bolcheviques suprimiram em 1921 não foi uma “ideologia” ou uma “conspiração do Exército Vermelho”, mas uma luta fundamental do povo russo para se libertar de suas algemas e “tomar o controle de seu próprio destino”.[27] Para a Rússia, isso significava o pesadelo da ditadura stalinista; para a geração dos anos trinta, significava o horror do fascismo e a traição dos partidos comunistas na Europa e nos Estados Unidos.
[editar]As duas tradições
Seria uma ingenuidade incrível supor que o leninismo foi produto de um único homem. A doença encontra-se muito mais profundamente, não nas limitações da teoria marxista, mas nas limitações da era social que produziu o marxismo. Se isso não for claramente entendido, permaneceremos tão cegos à dialética de eventos hoje em dia como Marx, Engels, Lênin e Trótski eram em suas épocas. Para nós, essa cegueira será repreensível com maior razão, porque atrás de nós se situa uma riqueza de experiência que faltava a esses homens no desenvolvimento de suas teorias.
Karl Marx e Friedrich Engels eram centralizadores – não somente política, mas também social e economicamente. Eles nunca negaram esse fato e seus escritos estão cheios de entusiasmados louvores à centralização política, organizacional e econômica. Como em março de 1850, em sua famosa “Mensagem da Direção Central da Liga Comunista”, eles convocam os trabalhadores a lutar não somente pela “única e indivisível república alemã, mas também lutar nela pela mais resoluta centralização de poder nas mãos da autoridade estatal”. Para que a reivindicação não seja superficialmente tomada, é repetida continuamente no mesmo parágrafo, que conclui: “Como na França de 1793, assim hoje na Alemanha a realização da centralização estrita é a tarefa do verdadeiro partido revolucionário”.
O mesmo tema reaparece continuamente em anos seguintes. Com a deflagração da Guerra franco-prussiana, por exemplo, Marx escreve a Engels: “A França precisa de uma surra. Se os prussianos vencerem, a centralização de poder estatal será útil para a centralização da classe trabalhadora alemã”.
Marx e Engels, contudo, não eram centralizadores por acreditar nas virtudes da centralização por si só. Pelo contrário: o marxismo e o anarquismo sempre concordaram com uma sociedade libertada e comunista vinculada a uma ampla descentralização, à dissolução da burocracia, à abolição do Estado, e à dispersão das cidades grandes. “A abolição da antítese entre cidade e campo simplesmente não é possível”, escreve Engels em Anti-Düring. “Ela se tornou uma necessidade direta… o presente envenenamento do ar, água e solo somente pode ter um fim com a fusão da cidade e do campo…”. Para Engels, isso envolve uma “distribuição uniforme da população pelo país inteiro” – em suma, a descentralização física das cidades.
As origens da centralização marxista estão entre os problemas que surgem da criação do Estado nacional. Até meados da segunda metade do século XIX, Alemanha e Itália estavam divididas em ducados, principados e reinos independentes. A consolidação dessas unidades geográficas em nações unificadas, acreditavam Marx e Engels, era uma condição sine qua non[28] para o desenvolvimento da indústria moderna e do capitalismo. Seu elogio à centralização não foi produzido por alguma mística centralizadora, mas pelos eventos do período em que viveram – o desenvolvimento de tecnologia, comércio, uma classe trabalhadora unificada, e o Estado nacional. Sua preocupação com esse assunto, em suma, é com a emergência do capitalismo, com as tarefas da revolução burguesa em uma era de inevitável escassez material. Por outro lado, a abordagem de Marx para a “revolução proletária”é notadamente diferente. Ele exaltava entusiasticamente a Comuna de Paris como um “modelo para todos os centros industrias franceses”. “Esse regime”, escreve, “uma vez estabelecido em Paris e nos centros secundários, o velho governo centralizado teria de, também nas províncias, dar lugar ao autogoverno dos produtores.” A unidade da nação, verdade, não desapareceria, e um governo central existiria durante a transição para o comunismo, mas suas funções seriam limitadas.
Nosso objetivo não é alternar entre citações de Marx e Engels, mas enfatizar como princípios chave do marxismo – que são aceitos até hoje tão passivamente – eram na realidade o produto de uma era que foi há muito ultrapassada pelo desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Em sua época, Marx não estava preocupado somente com os problemas de uma “revolução proletária”, mas também com os problemas da revolução burguesa em Alemanha, Espanha, Itália e Europa Ocidental. Ele tratou de problemas de transição do capitalismo para o socialismo em países que não tinham avançado muito além da tecnologia do carvão e aço da Revolução Industrial, e com os problemas de transição do feudalismo para o capitalismo em países que tinham escassamente avançado além de artesanato e das corporações de ofício. Para expressar essas preocupações mais amplamente, Marx estava, acima de tudo, mais ocupado com as pré-condições de liberdade (desenvolvimento tecnológico, unificação nacional, abundância material) do que com as condições de liberdade (descentralização, a formação de comunidades, a escala humana, democracia direta). Suas teorias estavam ainda baseadas no campo da sobrevivência, não no campo da vida.
Uma vez que isso seja compreendido, é possível colocar o legado teórico de Marx em uma perspectiva significativa – separar suas ricas contribuições de suas algemas historicamente limitadas, até mesmo paralisantes, de sua época. A dialética marxista, as muitas compreensões seminais providas pelo materialismo histórico, a ótima crítica da relação mercantil, muitos elementos das teorias econômicas, e, acima de tudo, a noção de que a liberdade tem pré-condições materiais – essas são contribuições permanentes ao pensamento revolucionário.
Contudo, a ênfase Marx no proletariado industrial como o “agente” da mudança revolucionária, sua “análise de classe” ao explicar a transição de uma sociedade de classes para uma sem classes, seu conceito de “ditadura do proletariado”, sua ênfase na centralização, sua teoria de desenvolvimento capitalista (que tende a misturar estado capitalista com socialismo), sua defesa de ação política através de partidos eleitorais – esses e muitos conceitos relacionados são falsos no contexto de nosso tempo e iludem, como devemos ver, mesmo em nossos próprios dias. Eles emergem das limitações de sua visão – mais propriamente, das limitações de seu tempo. Eles fazem sentido somente se se lembrar que Marx considerava o capitalismo como historicamente progressista, como um estágio indispensável para o desenvolvimento do socialismo, e têm aplicação prática somente para um tempo em que a Alemanha em particular era confrontada por objetivos burgueses-democráticos e pela unificação nacional. (Não estamos tentando dizer que Marx estava correto em manter essa abordagem, somente que essa abordagem faz sentido quando vista em seu próprio tempo e local).
Assim como a Revolução Russa incluía um movimento subterrâneo das “massas” que conflitavam com o bolchevismo, existe um movimento subterrâneo na história que conflita como todos os sistemas de autoridade. Esse movimento chegou a nosso tempo sob o nome de “anarquismo”, apesar de nunca ter sido abarcado por uma única ideologia ou conjunto de textos sagrados. O anarquismo é um movimento libidinoso da humanidade contra a coerção sob qualquer forma, remontando aos tempos da própria emergência da sociedade proprietária, de domínio de classe e do Estado. Desse período em diante, os oprimidos resistiram a todas as formas de procurar aprisionar o desenvolvimento de ordem social espontânea. O anarquismo veio a primeiro plano da arena social em períodos de maior transição de uma era histórica para outra. O declínio do mundo antigo e feudal testemunhou a insurreição de movimentos de massa, em alguns casos de caráter imoderadamente dionisíaco, que exigiram o fim de todos os sistemas de autoridade, privilégio e coerção.
Os movimentos anárquicos do passado fracassaram em grande medida porque a escassez material, em função da tecnologia rudimentar, contaminou uma harmonização orgânica de interesses humanos. Qualquer sociedade que pôde prometer materialmente um pouco mais que a igualdade na pobreza invariavelmente provocou que tendências profundamente assentadas reconstituíssem um novo sistema de privilégios. Na ausência de uma tecnologia que pudesse reduzir consideravelmente o dia de trabalho, a necessidade de trabalhar contaminou instituições sociais baseadas na autogestão. Os girondinos da Revolução Francesa notaram astutamente que poderiam usar o dia de trabalho contra a Paris revolucionária. Para tentar excluir os elementos radicais das seções, eles tentaram decretar uma lei que terminaria todas as assembleias antes das dez horas da noite, o horário em que os trabalhadores parisienses deixavam seus empregos. De fato, não foram somente as técnicas manipuladoras e a traição das organizações de “vanguarda” que deram cabo às fases anárquicas das revoluções do passado, foram também os limites materiais das eras passadas. As “massas” sempre foram compelidas a retornar a uma vida de trabalho pesado e foram raramente livres para estabelecer órgãos de autogestão que pudessem durar além da revolução.
Contudo, anarquistas como Bakunin e Kropotkin não estavam errados de modo algum ao criticar Marx por sua ênfase na centralização e suas noções elitistas de organização. A centralização era absolutamente necessária para avanços tecnológicos no passado? O Estado-nação era indispensável para a expansão do comércio? O movimento operário se beneficiou da emergência de empreendimentos econômicos altamente centralizados e do Estado “indivisível”? Tendemos a aceitar essas doutrinas do marxismo muito passivamente, em grande parte porque o capitalismo se desenvolveu em uma arena política centralizada. Os anarquistas do século passado avisaram que a abordagem centralizadora de Marx, até o ponto em que afetou os eventos da época, fortaleceria tanto a burguesia e o aparato estatal que a destruição do capitalismo se tornaria extremamente difícil. O partido revolucionário, reproduzindo essas características centralizadoras e hierárquicas, reproduziria a hierarquia e o centralização na sociedade pós-revolucionária.
Bakunin, Kropotkin e Malatesta não eram tão ingênuos para acreditar que o anarquismo pudesse ser estabelecido da noite para o dia. Ao atribuir essa opinião a Bakunin, Marx e Engels distorceram propositadamente as visões dos anarquistas russos. Os anarquistas do século passado também não acreditavam que a abolição do Estado envolveria “baixar armas” imediatamente após a revolução, para usar a escolha obscurantista de termos de Marx, repetida continuamente por Lênin em Estado e Revolução. Na verdade, muito do que se passa por “marxismo” em Estado e Revolução é puro anarquismo – por exemplo, a substituição de milícias revolucionárias por grupos armados profissionais e a substituição de órgãos de autogestão por grupos parlamentares. O que é a autenticamente marxista no panfleto de Lênin é a reivindicação de “centralização estrita”, a aceitação de uma “nova burocracia”, e a identificação dos sovietes com um Estado.
Os anarquistas do século passado estavam profundamente preocupados com a questão de realizar a industrialização sem esmagar o espírito revolucionário das “massas” ou criar novos obstáculos à emancipação. Eles temiam que a centralização reforçasse a capacidade de resistência da burguesia à revolução e instilasse nos trabalhadores um senso de obediência. Eles tentaram resgatar todas as formas comunais pré-capitalistas (como a mir russa e o pueblo espanhol) que pudessem prover uma rampa para uma sociedade livre, não somente em um sentido estrutural, mas também em espiritual. Assim, eles enfatizaram a necessidade da descentralização mesmo sob o capitalismo. Em contraste aos partidos marxistas, suas organizações davam atenção considerável ao que eles chamavam de “educação integral” – o desenvolvimento de um homem inteiro – para neutralizar a influência degradante e banalizadora da sociedade burguesa. Os anarquistas tentaram viver sob valores do futuro na medida em que isso era possível sob o capitalismo. Eles acreditavam na ação direta para promover a iniciativa das “massas”, para preservar o espírito de revolta, para encorajar a espontaneidade. Eles tentaram desenvolver organizações baseadas em ajuda mútua e fraternidade, nas quais o controle seria exercido de baixo para cima, não de cima para baixo.
Temos de parar aqui para examinar a natureza de formas organizacionais anarquistas em detalhes, somente porque o assunto foi obscurecido por uma espantosa quantidade de besteiras. Anarquistas, ou, ao menos, anarcocomunistas, aceitam a necessidade de organização.[29] É tão absurdo ter de repetir essa questão quanto discutir sobre se Marx aceitava a necessidade da revolução social.
A verdadeira questão em debate aqui não é organização versus não organização, mas mais que tipo de organização os anarcocomunistas tentam estabelecer. O que os diferentes tipos de organizações anarcocomunistas têm em comum são os desenvolvimentos orgânicos a partir de baixo, não são corpos planejados a partir de cima. Eles são movimentos sociais, combinando um estilo de vida revolucionário criativo com uma teoria revolucionária criativa, não partidos políticos cujo modo de vida é indistinguível do ambiente burguês ao redor e cuja ideologia é reduzida a rígidos “programas experimentados e testados”. Tanto quanto é humanamente possível, eles tentam refletir a sociedade libertada que procuram realizar, não reproduzir escravamente o sistema prevalente de hierarquia, classe e autoridade. Eles são construídos ao redor de íntimos grupos de irmãos e irmãs – grupos de afinidade – cuja capacidade de agir em comum é baseada em iniciativa, em convicções livremente atingidas, e em profundo envolvimento pessoal, não ao redor de um aparato burocrático engrossado por uma militância submissa e manipulada a partir de cima por uma porção de líderes oniscientes.
Os anarcocomunistas não negam a necessidade de coordenação entre grupos, de disciplina, de planejamento meticuloso e de unidade na ação. Mas eles acreditam que coordenação, disciplina, planejamento e unidade na ação devem ser alcançados voluntariamente, por meio de uma autodisciplina fomentada por convicção e entendimento, não por coerção e obediência absoluta e inquestionável de ordens superiores. Eles procuram alcançar a efetividade imputada à centralização por meio de voluntariedade e compreensão, não pelo estabelecimento de uma estrutura hierárquica e centralizada. Dependendo das necessidades ou circunstâncias, os grupos de afinidade podem alcançar essa efetividade através de assembleias, comitês de ação e conferências locais, regionais ou nacionais. Ele eles se opõem vigorosamente ao estabelecimento de uma estrutura organizacional que se torne um fim em si, de comitês que se demoram depois que suas tarefas práticas foram completadas, de uma “liderança” que reduz o “revolucionário” a um robô estúpido.
Essas conclusões não são resultado de impulsos levianos “individualistas”; pelo contrário, elas emergem de um estudo minucioso das revoluções passadas, do impacto que partidos centralizados tiveram no processo revolucionário, e da natureza da mudança social em uma era de potencial abundância material. Anarcocomunistas procuram preservar e estender a fase anárquica que abre todas as grandes revoluções sociais. Ainda mais que os marxistas, reconhecem que as revoluções são produzidas por profundos processos históricos. Nenhum comitê central “faz” uma revolução social; no melhor dos casos, ele pode promover um golpe de estado, substituindo uma hierarquia por outra – ou pior, barrar um processo revolucionário se exercer alguma influência muito disseminada. Um comitê central é um órgão para adquirir poder, criar poder, para pegar para si o que as “massas” realizam por seus próprios esforços revolucionários. É necessário ser cego para tudo que aconteceu nos dois séculos passados para não se reconhecer esses fatos essenciais.
No passado, os marxistas podiam fazer uma inteligível (ainda que inválida) reivindicação de um partido centralizado, porque a fase anárquica da revolução era anulada pela escassez material. Economicamente, as “massas” sempre foram compelidas a retornar a uma vida diária de trabalho duro. A revolução fechada às dez da noite, exatamente ao lado das intenções reacionárias dos girondinos de 1793, foi barrada pelo baixo nível da tecnologia. Hoje, mesmo essa justificativa foi excluída pelo desenvolvimento de uma tecnologia pós-escassez, notadamente nos EUA e Europa Ocidental. Chegou um ponto em que as “massas” podem começar, quase da noite para o dia, a expandir drasticamente o “campo da liberdade”, no sentido marxista – para adquirir o tempo livre necessário para atingir o mais alto nível de autogestão.
O que os eventos de maio e junho na França demonstraram não foi a necessidade de um partido tipo bolchevique, mas a necessidade de maior consciência entre as “massas”. Paris demonstrou que uma organização é necessária para propagar ideias sistematicamente – e não ideias sozinhas, mas ideias que promovam o conceito de autogestão. O que faltou às “massas” francesas não foi um comitê central para organizar ou comandá-las, mas a convicção de que elas poderiam ter operado as fábricas, ao invés de ocupá-las somente. Vale a pena ressaltar que nem um único partido tipo bolchevique reivindicou a autogestão. A reivindicação foi feita somente pelos anarquistas e situacionistas.
Há uma necessidade por uma organização revolucionária – mas sua função deve ser sempre mantida claramente em mente. Sua primeira tarefa é a propaganda, para “explicar pacientemente”, como colocou Lênin. Em uma situação revolucionária, a organização revolucionária apresenta as mais avançadas reivindicações: ela está preparada para toda mudança de eventos para formular – na forma mais concreta – a tarefa imediata que deve ser desempenhada para o processo revolucionário avançar. Ela fornece os elementos mais nítidos em ação e nos órgãos de tomada de decisão da revolução.
De que modo, então, grupos anarcocomunistas diferem do tipo bolchevique de partido? Certamente não nas em questões como a necessidade de organização, planejamento, coordenação, propaganda em todas as suas formas ou na necessidade de um programa social. Fundamentalmente, eles diferem do tipo bolchevique de partido em sua crença de que revolucionários genuínos devem funcionar dentro de estruturas de formas criadas pela revolução, não pelo partido. O que isso significa é que seu comprometimento se dá aos órgãos revolucionários de autogestão, não à “organização” revolucionária; às formas sociais, não às formas políticas. Anarcocomunistas buscam persuadir os comitês de fábricas, assembleias ou sovietes para fazerem-se órgãos genuínos de autogestão popular, não dominá-los, manipulá-los ou prender todos a um partido político onisciente. Anarcocomunistas não buscam criar uma estrutura estatal sobre esses órgãos revolucionários populares, mas, pelo contrário, dissolver todas as formas organizacionais desenvolvidas no período pré-revolucionário (incluindo as suas próprias) para dar lugar a esses órgãos genuinamente revolucionários.
Essas diferenças são decisivas. A despeito de sua retórica e slogans, os bolcheviques russos nunca acreditaram nos sovietes; eles os consideravam instrumentos do Partido Bolchevique, uma atitude que os trotskistas franceses lealmente reproduziram em suas relações com a assembleia de estudantes da Sorbonne, os maoístas franceses com os sindicatos franceses, e os grupos da Velha Esquerda com o SDS. Por volta de 1921, os sovietes estavam virtualmente mortos, e todas as decisões eram tomadas pelo Comitê Central Bolchevique e do Departamento Político. Os anarcocomunistas não buscam somente evitar que os partidos marxistas repitam isso; eles também desejam evitar que sua própria organização tenha um papel similar. Do mesmo modo, eles tentam evitar que burocracia, hierarquia e elites dominem seu meio. Não menos importante, eles tentam refazer-se; extirpar de suas personalidades aqueles traços autoritários e propensões elitistas que são assimiladas na sociedade hierárquica quase desde o nascimento. O interesse do movimento anarquista com o estilo de vida não é meramente uma preocupação com sua própria integridade, mas com a integridade da própria revolução.[30]
No meio de todas essas confusas correntes ideológicas de nosso tempo, uma questão sempre permanece em primeiro plano: para que diabos estamos tentando fazer uma revolução? Estamos tentando fazer uma revolução para criar novamente hierarquia, mantendo um futuro sombrio de liberdade futura diante dos olhos da humanidade? É para promover mais avanços tecnológicos, criar uma abundância ainda maior de bens que a hoje existente? É para levar o PL ao poder? Ou o Partido Comunista? Ou o Partido Socialista dos Trabalhadores? É para emancipar abstrações como “O Proletariado”, “O Povo”, “História”, “Sociedade”?
Ou é para finalmente dissolver a hierarquia, domínio de classe e coerção – para fazer possível que cada indivíduo ganhe controle de sua vida cotidiana? É para fazer cada momento tão maravilhoso quanto possa ser e a extensão de vida de cada indivíduo uma experiência totalmente consumada? Se o verdadeiro objetivo da revolução é levar o homem neandertal do PL ao poder, não vale a pena fazê-la. Precisamos discutir bastante as inócuas questões de se o desenvolvimento individual pode ser separado do desenvolvimento social e comunal; obviamente os dois se dão juntos. A base para um ser humano completo é uma sociedade bem acabada; a base para um ser humano livre é uma sociedade livre.
Com essas questões de lado, ainda encaramos a questão que Marx levantou em 1850: quando começaremos a pegar nossa poesia do futuro, ao invés de do passado? Deve ser permitido que o morto enterre o morto. O marxismo está morto porque é baseado em uma era de escassez material, limitada em suas possibilidades pela carência material. A mais importante mensagem do marxismo é que a liberdade tem pré-condições materiais – devemos sobreviver para viver. Com o desenvolvimento de uma tecnologia que não poderia ter sido concebida nem pela mais mirabolante ficção científica nos dias Marx, a possibilidade de uma sociedade pós-escassez agora se encontra à nossa frente. Todas as instituições da sociedade proprietária – domínio de classe, hierarquia, a família patriarcal, burocracia, a cidade, o Estado – se exauriram. Hoje, a descentralização não é somente desejável como meio de restaurar a escala humana, é necessária para criar novamente uma ecologia viável, para proteger a vida neste planeta de poluentes destrutivos e erosão do solo, para preservar uma atmosfera respirável e o equilíbrio da natureza. A promoção de espontaneidade é necessária se a revolução social deve colocar cada indivíduo no controle de sua vida cotidiana.
As antigas formas de luta não desaparecem totalmente com a decomposição da sociedade de classes, mas estão sendo ultrapassadas pela discussão de uma sociedade sem classes. Não pode haver nenhuma revolução social sem atingir os trabalhadores, por isso eles têm de ter nossa solidariedade ativa em toda luta que empreendem contra a exploração. Lutamos contra crimes sociais onde quer que ocorram – e exploração industrial é um crime social completo. Mas assim são o racismo, a negação do direito de autodeterminação, o imperialismo e a pobreza – e assim são a poluição, a urbanização sem condições, a perniciosa socialização dos jovens e a repressão sexual. No que diz respeito ao problema de ganhar a classe trabalhadora para a revolução, devemos ter em mente que uma pré-condição para a existência da burguesia é o desenvolvimento do proletariado. O capitalismo como um sistema social pressupõe a existência de ambas as classes e é perpetuado pelo desenvolvimento de ambas as classes. Começamos a minar as premissas de domínio de classe na medida em que libertamos as classes não burguesas, ao menos institucionalmente, psicologicamente e culturalmente.
Pela primeira vez na história, a fase anárquica que abriu todas as grandes revoluções do passado pode ser preservada como uma condição permanente pelo avanço da tecnologia de nosso tempo. As instituições anárquicas dessa fase – as assembleias, os comitês de fábrica – podem ser estabilizados como os elementos de uma sociedade libertada, como os elementos de um novo sistema de autogestão. Construiremos um movimento que possa defendê-las? Podemos criar uma organização de grupos de afinidades que seja capaz de dissolver-se dentro dessas instituições revolucionárias? Ou construiremos um partido hierárquico, centralizado e burocrático que tentará dominá-las, suplantá-las e, ao final, destruí-las?
Escuta, marxista: a organização que tentamos construir é o tipo de sociedade que nossa revolução criará. Ou largamos o passado – em nós mesmos, assim como em nossos grupos – ou simplesmente não haverá futuro para conquistar.
Nova Iorque
Maio de 1969
Notas
-
↑ Partido estadunidense que pode ser traduzido por Partido Progressista Trabalhador Maoísta, cuja sigla é PLP (muita usada por Bookchin e que será mantida na forma original nesta tradução). Fundado em 1961 por uma dissidência do Partido Comunista dos EUA, existe até hoje (N. do T.).
-
↑ Students for a Democratic Society, Estudantes por uma Sociedade Democrática, movimento estudantil estadunidense de esquerda (a chamada New Left) existente nos anos 1960. (N. do T.)
-
↑ Essas linhas foram escritas quando o Partido Progressista Trabalhador (PLP) exercia uma grande influência na SDS. Apesar de o PLP ter perdido agora a maior parte de sua influência no movimento estudantil, a organização ainda é um bom exemplo da mentalidade e dos valores prevalentes na Velha Esquerda. A caracterização acima é igualmente válida para a maior parte dos grupos marxista-leninistas, assim essa passagem e outras referências ao PLP não foram substancialmente alteradas.
-
↑ O Dodge Revolutionary Union Movement, parte da Liga dos Trabalhadores Negros Revolucionários de Detroit.
-
↑ O marxismo é acima de tudo uma teoria de prática, ou, para colocar esta relação em sua perspectiva correta, uma prática de teoria. Esse é o verdadeiro significado das transformações da dialética por Marx, que tomou isso da dimensão subjetiva (para a qual os Jovens Hegelianos ainda tentaram confinar a visão de Hegel) para o objetivo, de uma crítica filosófica para ação social. Se a teoria e a prática se separarem, o marxismo não será morto, ele cometerá suicídio. Essa é a mais admirável e digna característica. As tentativas dos cretinos que seguem o caminho de Marx de manter vivo o sistema com retalhos e emendas, exegese, e “conhecimento” meia-boca à la Maurice Dobb e George Novack são degradantes insultos ao nome de Marx e uma repulsiva poluição de tudo que ele sustentava.
-
↑ Na verdade, os marxistas façam pouco sobre a “crise [econômica] crônica do capitalismo” hoje em dia – apesar do fato de esse conceito compor o foco das teorias econômicas de Marx.
-
↑ Por razões ecológicas, não aceitamos a noção da “dominação da natureza pelo homem” no sentido simplista que foi transmitido por Marx um século atrás. Para uma discussão desse problema, ver Ecologia e Pensamento Revolucionário.
-
↑ É irônico que os marxistas que falam sobre o “poder econômico” do proletariado estejam, na verdade, ecoando a opinião dos anarcossindicalistas, uma opinião a que Marx se opôs asperamente. Marx não estava preocupado com o “poder econômico” do proletariado, mas com seu poder político; particularmente com o fato de que ele se tornou a maioria da população. Ele estava convencido de que os trabalhadores industriais seriam guiados à revolução primeiramente pela destituição material que sucederia a tendência de acumulação capitalista; de modo que, organizado pelo sistema da fábrica e disciplinado por uma rotina industrial, eles seriam capazes de constituir sindicatos e, acima de tudo, partidos políticos, que em alguns países seriam obrigados a usar métodos insurrecionários e, em outros (Inglaterra, Estados Unidos e, anos depois, acrescentou Engels, França) poderiam chegar ao poder através de eleições e legislar para colocar em prática o socialismo. Distintamente, o Progressive Labor Party esteve com os leitores do Challenge [jornal bi-semanal do PLP (N. do T.)], deixando observações importantes não traduzidas, ou distorcendo grosseiramente a intenção de Marx.
-
↑ Este é um bom local para descartar a noção de que qualquer um é um “proletário” que não tem nada a vender, exceto seu poder de trabalho. É verdade que Marx definiu o proletariado nesses termos, mas ele também elaborou uma dialética histórica sobre o desenvolvimento do proletariado. O proletariado se desenvolve a partir de uma classe explorada e sem propriedades, alcançando sua mais avançada forma no proletariado industrial, que corresponde à mais avançada forma de capital. Nos anos seguintes de sua vida, Marx veio a desprezar os trabalhadores parisienses, que estavam comprometidos principalmente na produção de bens de luxo, citando “nossos trabalhadores alemães” – o tipo mais robô da Europa – como o proletariado “modelo” do mundo.
-
↑ A tentativa de descrever a teoria da imiseração em termos internacionais, ao invés de nacionais (como o fez Marx), é puro subterfúgio. Em primeiro lugar, esse truque teórico simplesmente tenta colocar à parte a questão de por que a imiseração não ocorreu dentro dos baluartes do capitalismo, as únicas áreas que formam um ponto de partida tecnologicamente adequado para uma sociedade sem classes. Se prendermos nossas esperanças no mundo colonial como “o proletariado”, essa posição esconde um perigo muito real: genocídio. Os Estados Unidos e sua recente aliada, a Rússia, têm todos os meios técnicos para colocar o mundo subdesenvolvido em submissão por seu poder bélico. Uma ameaça espreita no horizonte histórico – o desenvolvimento dos Estados Unidos como um império verdadeiramente fascista do tipo nazista. É besteira absoluta dizer que este país é um “tigre de papel” [expressão usada por Mao Tse-Tung se referindo aos EUA, em 1956 (N. do T.)]. Ele é um tigre termomolecular e a classe dominante americana, carecendo de qualquer limitação moral, é capaz até mesmo de ser mais cruel que a alemã.
-
↑ Lênin o percebeu e descreveu “socialismo” como “nada mais que um monopólio do estado capitalista feito para beneficiar todo o povo”. Essa é uma afirmação extraordinária, se se estudam suas implicações, e uma grande contradição.
-
↑ Sobre essa questão, a Velha Esquerda projeta sua própria imagem neandertal no trabalhador americano. Na verdade, essa imagem se aproxima mais do personagem do burocrata sindical ou do comissário stalinista.
-
↑ No original, “workerness”, entre aspas. Deve ser entendido como um neologismo que se refere ao trabalho. (N. do T.)
-
↑ O trabalhador, nesse sentido, começa a se aproximar dos tipos humanos socialmente transicionais que proveram a história com seus elementos mais revolucionários. Geralmente, o “proletariado” foi mais revolucionário em períodos transicionais, quando ele era menos “proletarizado” psiquicamente pelo sistema industrial. Os grandes focos das resoluções clássicas dos trabalhadores foram Petrogrado e Barcelona – lá os trabalhadores foram diretamente desarraigados de uma prática camponesa – e Paris – lá eles ainda se baseavam em ofícios, ou vinham diretamente de uma prática de ofícios. Esses trabalhadores tinham a maior dificuldade em se aclimatar à dominação industrial e se tornaram uma fonte contínua de inquietação social e revolucionária. Por outro lado, a classe trabalhadora hereditariamente estável tendia a ser surpreendentemente não revolucionária. Mesmo no caso de trabalhadores alemães que eram citados por Marx e Engels como modelos para o proletariado europeu, a maioria não apoiava os espartaquistas de 1919. Eles retornaram como ampla maioria de social-democratas no Congresso de Conselhos de Trabalhadores, e no Reichstag anos depois, e se reuniam consistentemente sob o Partido Social Democrata em 1933.
-
↑ Escolas que ensinam certas características para ter certos empregos. Semelhante a um curso técnico. (N. do T.)
-
↑ Esse estilo de vida revolucionário pode se desenvolver nas fábricas assim como nas ruas, em escolas assim como em crash pads [tipo de habitação coletiva parecida com okupas, e squats (N. do T.)], nos subúrbios assim como no leste da área da baía de San Francisco. Sua essência é a rebeldia, e uma “propaganda pelo ato” pessoal que corrói todas as tradições, instituições e lemas de dominação. À medida que a sociedade começa a se aproximar do princípio do período revolucionário, as fábricas, escolas e bairros tornam-se a verdadeira arena da “brincadeira” revolucionária – uma “brincadeira” que tem um núcleo muito sério. Greves tornam-se uma condição crônica e são convocadas por seu próprio interesse de quebrar a aparência da rotina, para desafiar a sociedade quase de hora em hora, para quebrar o ânimo da normalidade burguesa. Esse novo ânimo dos trabalhadores, estudantes e pessoas dos bairros é um precursor vital ao verdadeiro momento da transformação revolucionária. Sua mais consciente expressão é a reivindicação de “autogestão”; o trabalhador recusa-se a ser um ser “gestionado”, um ser de classe. Esse processo foi mais evidente na Espanha, às vésperas da revolução de 1936, quando trabalhadores em quase todo município e cidade convocaram greves “por prazer” – para expressar sua independência, seu senso de despertar, sua quebra com a ordem social e com as condições de vida burguesas. Foi também uma característica essencial da greve geral de 1968 na França.
-
↑ A característica mais impressionante das revoluções do passado é que […]. Um fato que Trótski nunca compreendeu. Ele nunca investigou satisfatoriamente as consequências de seu conceito próprio de “desenvolvimento combinado” às suas conclusões lógicas. Ele viu (um pouco corretamente) que a Rússia czarista, o último país no desenvolvimento burguês europeu, necessariamente obteve as mais avançadas formas industriais e de classe ao invés de começar o desenvolvimento burguês desde o início. Ele negligenciou considerar aquela Rússia, dilacerada por grandes sublevações internas, pudesse correr à frente do desenvolvimento capitalista de algum lugar da Europa. Hipnotizado pela fórmula “propriedade nacionalizada é igual a socialismo”, ele falhou em reconhecer que o próprio capitalismo monopolista tende a se juntar ao Estado por sua própria dialética interna. Os bolcheviques, tendo acabado com as formas tradicionais de organização burguesas (que ainda agem como controle no desenvolvimento do Estado capitalista na Europa e na América), inadvertidamente prepararam o terreno para o desenvolvimento “puro” de um estado capitalista no qual o Estado finalmente torna-se a classe dominante. Carecendo de apoio de uma Europa tecnologicamente avançada, a Revolução Russa tornou-se uma contrarrevolução interna; a Rússia Soviética tornou-se uma forma de estado capitalista que não “beneficia todo o povo”. A analogia de Lênin entre “socialismo” e capitalismo de estado torna-se uma aterrorizante realidade com Stálin. A despeito de seu núcleo humanista, o marxismo falhou em compreender o quanto seu conceito de “socialismo” se aproxima de um estágio avançado do próprio capitalismo – o retorno de formas mercantis em um nível industrial mais alto. O fracasso de entendimento desse desenvolvimento levou a uma confusão teórica devastadora no movimento revolucionário contemporâneo, como testemunha de rachas entre os trotskistas a respeito dessa questão.
-
↑ O Movimento 22 de Março funcionou como um agente catalisador nos eventos, não como liderança. Ele não comandou; ele instigou, deixando um livre desenrolar para os acontecimentos. Esse livre desenrolar, que permitiu aos estudantes agirem em seu próprio momento, foi indispensável para a dialética da insurreição, pois, sem ele, não haveria barricadas em 10 de maio, que, por sua vez, impulsionaram a greve geral dos operários.
-
↑ Ver “The Forms of Freedom” (“As Formas de Liberdade”).
-
↑ Como uma arrogância sublime, que é tributável parcialmente à ignorância, alguns grupos marxistas queriam nomear de “sovietes” praticamente todas as formas de autogestão acima. A tentativa de trazer todas essas diferentes formas sob um único nome não é o único engano intencionalmente obscurantista. Os verdadeiros sovietes eram as formas menos democráticas da revolução e os bolcheviques os usavam astutamente para transferir poder a seu próprio partido. Os sovietes não eram baseados em democracia cara a cara, como as seções parisienses ou as assembleias estudantis de 1968. Nem eram baseados em autogestão econômica, como os comitês de fábricas espanhóis anarquistas. Os sovietes formavam, na verdade, um parlamento de trabalhadores, um órgão hierárquico que retirava sua representação de fábricas e, depois, de unidades militares e aldeias camponesas.
-
↑ Tratado de paz entre o governo bolchevique e os países da Tríplice Aliança, marcando a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. (N. do T.)
-
↑ V. I. Lenin, “The Immediate Tasks of the Soviet Government,” em Obras Selecionadas, vol. 7 (International Publishers; New York, 1943), p. 342. Nesse ríspido artigo, publicado em abril de 1918, Lênin abandonava completamente a perspectiva libertária a que tinha avançado no ano anterior em “Estado e Revolução”. Os temas principais do artigo são a necessidade de “disciplina”, de controle autoritário sobre as fábricas, e da instituição do sistema Taylor [Taylorismo, sistema para aumentar a produção industrial (e os lucros, originalmente) (N. do T.)] (um sistema que Lênin denunciara antes, pois escravizaria o homem à máquina). O artigo foi escrito durante um período relativamente pacífico do governo bolchevique, cerca de dois meses depois da assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, e um mês antes da revolta da Legião Tcheca no Ural – a revolta que começou a guerra civil em larga escala e abriu o período de intervenção direta dos Aliados na Rússia. Por fim, o artigo foi escrito perto de um ano antes da derrota da revolução alemã. Seria difícil ter em conta as “Tarefas Imediatas” somente em termos da guerra civil russa e do fracasso da revolução européia.
-
↑ ”Mir”, em russo, pode significar “sociedade”. Eram comunidades agrárias camponesas. (N. do T.)
-
↑ Exército Insurrecionário Revolucionário da Ucrânia, de tendência anarcocomunista, liderado por Nestor Makhno.(N. do T.)
-
↑ Corrente política também conhecida como dos Trudoviks. (N. do T.)
-
↑ Braço militar do governo bolchevique, responsável, entre outras coisas, pela perseguição aos adversários políticos, torturas e repressão em geral.(N. do T.)
-
↑ Ao interpretar esse movimento fundamental dos operários e camponeses russos como uma série de “conspirações do Exército Branco”, “atos de resistência kulak [fazendeiros relativamente ricos (N. do T.)]” e “conspirações do capital internacional”, os bolcheviques atingiram uma baixeza teórica incrível e não enganaram ninguém, exceto a si mesmos. Um desgaste espiritual desenvolveu-se dentro do partido, o que abriu caminho para os políticos da polícia secreta, para assassinato político, e, finalmente, para os julgamentos de Moscou e a aniquilação do antigo revolucionário profissional bolchevique. Vê-se o retorno dessa mentalidade odiosa em artigos do PL [Progressive Labor, partido marxista-leninista estadunidense (N. do T.)] em artigos como “Marcuse: Fujão ou Tira?” – cujo tema é estabelecer Marcuse como agente da CIA (Ver o Progressive Labor de fevereiro de 1969). O artigo tem uma legenda sob uma fotografia de parisienses protestando que diz: “Marcuse foi a Paris muito tarde para parar a ação de maio”. Oponentes do PLP são invariavelmente descritos por esse jornaleco como “anticomunistas” ou “antitrabalhadores”. Se a esquerda americana não repudiar essa abordagem policial e o assassinato político, ela vai pagar caro nos próximos anos.
-
↑ Termo em latim que significa “indispensável”, “fundamental”. (N. do T.)
-
↑ O termo “anarquista” é uma palavra genérica, como o termo “socialista”, e há provavelmente tantos anarquistas diferentes quanto socialistas. Em ambos os casos, o espectro varia de indivíduos cujas visões derivam de uma extensão do liberalismo (os “anarquistas individualistas”, os social-democratas) a comunistas revolucionários (os anarcocomunistas, os marxistas, leninistas e trotskistas revolucionários).
-
↑ É esse objetivo, podemos acrescentar, que motiva o dadaísmo anarquista, a loucura anarquista que produz as rugas de preocupação nas tolas faces dos tipos do PLP. A loucura anarquista tenta quebrar os valores internos inerentes à sociedade hierárquica, explodir a rigidez instilada pelo processo de socialização burguesa. Em suma, é uma tentativa de romper o superego que exerce um efeito tão paralisante sobre a espontaneidade, imaginação e sensibilidade e restaurar um senso de desejo, possibilidade e do maravilhoso – revolução como um festival libertador e jubiloso.
De “Anarquismo Pós-Escassez”, 1971.
Traduzido por oceano
 Em grande parte desconhecida até recentemente, a cidade curda de Kobane atraiu a atenção mundial à sua forte resistência [i] contra a invasão do Estado Islâmico, e tornou-se um símbolo internacional, comparada à defesa de Madrid e Stalingrado. A bravura e heroísmo das Unidades de Defesa Popular e das Unidades de Defesa da Mulher (YPG e YPJ) foram elogiados por grande parte de grupos e indivíduos – anarquistas, esquerdistas, liberais e até mesmo direitistas expressaram solidariedade e admiração pelos homens e mulheres de Kobane em sua batalha histórica contra o que foi frequentemente considerado “fascismo” do Estado Islâmico. A grande mídia foi forçada a quebrar o silêncio sobre a autonomia curda, e logo vários artigos e notícias foram transmitidos e publicados, muitas vezes retratando a “dureza” e determinação dos combatentes curdos com uma certa dose de exotismo, é claro. No entanto, essa atenção foi muitas vezes seletiva e parcial – a verdadeira essência do projeto político em Rojava (Curdistão ocidental) foi deixada de lado e a mídia preferiu apresentar a resistência em Kobane como alguma exceção estranha à suposta barbárie do Oriente Médio. Sem surpresa, a estrela vermelha, brilhando nas bandeiras vitoriosas do YPG/YPJ não era uma imagem agradável aos olhos das potências ocidentais e dos seus meios de comunicação. Os cantões autônomos de Rojava representam uma solução caseira para os conflitos no Oriente Médio, que engloba a democracia de base e direitos étnicos, sociais e de gênero, e tudo isso sendo rejeitado tanto pelo terror do Estado Islâmico como também pela democracia liberal e pela economia capitalista. Embora o Ocidente tenha preferido ficar em silêncio sobre esta questão, este fundamento ideológico é a chave para a compreensão do espírito que escreveu a epopeia de Kobane, e que fascinou o mundo, como o ativista curdo e acadêmico, Dilar Dirik, afirmou recentemente [ii].
Em grande parte desconhecida até recentemente, a cidade curda de Kobane atraiu a atenção mundial à sua forte resistência [i] contra a invasão do Estado Islâmico, e tornou-se um símbolo internacional, comparada à defesa de Madrid e Stalingrado. A bravura e heroísmo das Unidades de Defesa Popular e das Unidades de Defesa da Mulher (YPG e YPJ) foram elogiados por grande parte de grupos e indivíduos – anarquistas, esquerdistas, liberais e até mesmo direitistas expressaram solidariedade e admiração pelos homens e mulheres de Kobane em sua batalha histórica contra o que foi frequentemente considerado “fascismo” do Estado Islâmico. A grande mídia foi forçada a quebrar o silêncio sobre a autonomia curda, e logo vários artigos e notícias foram transmitidos e publicados, muitas vezes retratando a “dureza” e determinação dos combatentes curdos com uma certa dose de exotismo, é claro. No entanto, essa atenção foi muitas vezes seletiva e parcial – a verdadeira essência do projeto político em Rojava (Curdistão ocidental) foi deixada de lado e a mídia preferiu apresentar a resistência em Kobane como alguma exceção estranha à suposta barbárie do Oriente Médio. Sem surpresa, a estrela vermelha, brilhando nas bandeiras vitoriosas do YPG/YPJ não era uma imagem agradável aos olhos das potências ocidentais e dos seus meios de comunicação. Os cantões autônomos de Rojava representam uma solução caseira para os conflitos no Oriente Médio, que engloba a democracia de base e direitos étnicos, sociais e de gênero, e tudo isso sendo rejeitado tanto pelo terror do Estado Islâmico como também pela democracia liberal e pela economia capitalista. Embora o Ocidente tenha preferido ficar em silêncio sobre esta questão, este fundamento ideológico é a chave para a compreensão do espírito que escreveu a epopeia de Kobane, e que fascinou o mundo, como o ativista curdo e acadêmico, Dilar Dirik, afirmou recentemente [ii].