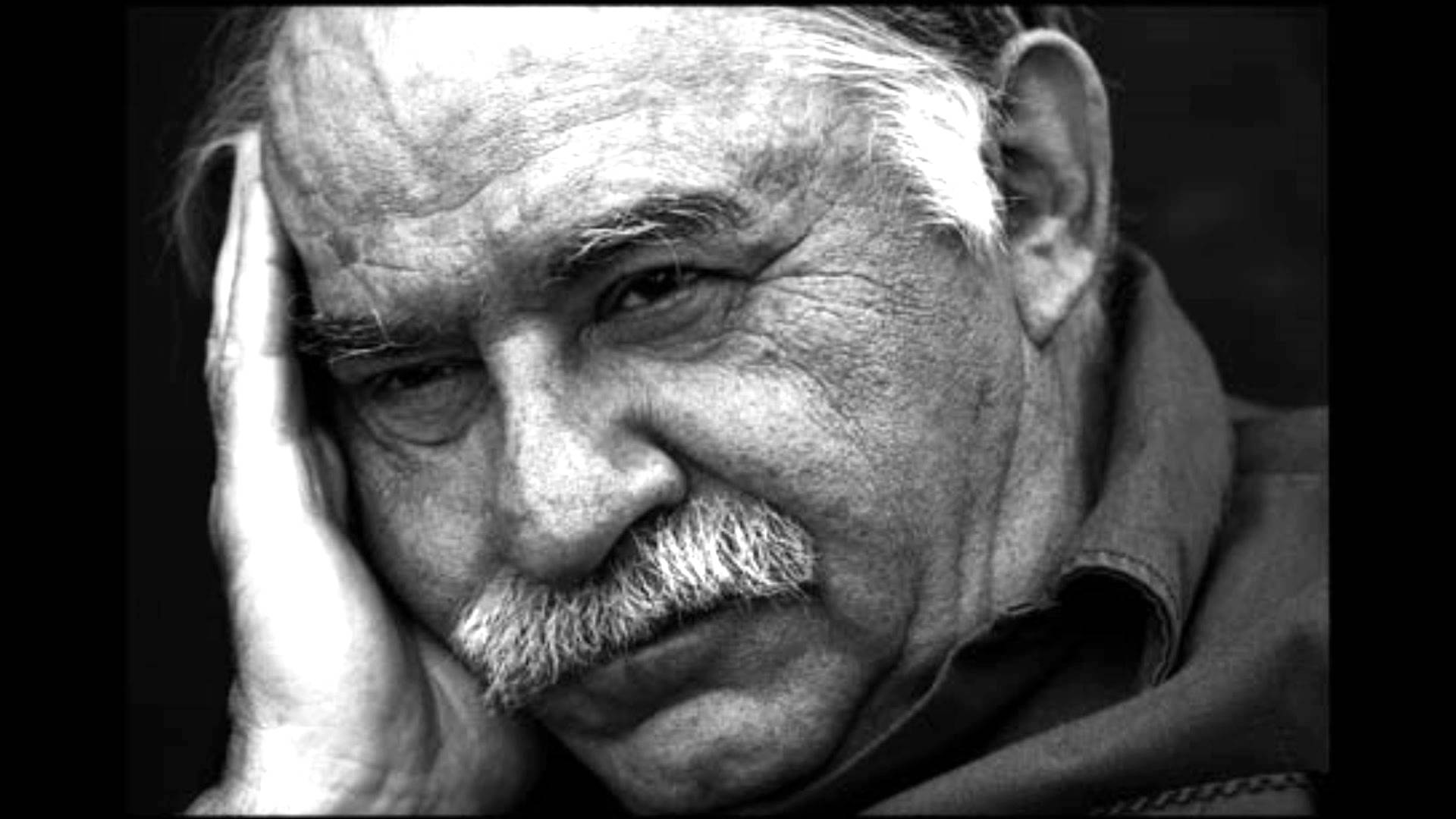Fonte: Passa Palavra
Fonte: Passa Palavra
O espaço urbano do passado e do porvir – como qualquer outro espaço – é, também, fruto de lutas sociais, em especial quando as cidades são o palco principal das lutas pela liberdade. Por Manolo
Embora seja possível traçar seus antecessores em diversos momentos da história, o movimento anarquista, tal como o compreendemos hoje, consolidou-se como expressão de um projeto político apenas nas quatro últimas décadas do século XIX, e a força, presença e relevância deste projeto político inicial influenciaram incontáveis organizações e iniciativas políticas até a década de 1930, quando eventos que culminaram na chegada ao poder político entre 1917 e 1939 de organizações políticas historicamente inimigas do anarquismo – que vão desde comunistas até fascistas, passando por organizações influenciadas pelo liberalismo, pelo conservadorismo, pelo nacionalismo e pelo fundamentalismo religioso – resultaram numa onda de perseguição política aos anarquistas cujo saldo foi o desmantelamento de suas organizações e a destruição de seus arquivos pessoais, além de prisões, exílios e assassinatos.
Somente na década de 1960 o anarquismo retornou com força à cena política, perseguido e marginalizado (WOODCOCK, 2008). Por isto, optou-se neste artigo por chamar o movimento anarquista existente nos setenta anos compreendidos entre as décadas de 1860 e 1930 de primeira onda do anarquismo, para diferenciá-lo da retomada iniciada na década de 1960, cujos efeitos são sentidos até hoje.
Nesta primeira onda do movimento anarquista, houve dois militantes, geógrafos de profissão, que apresentaram versões alternativas e bastante funcionais a muitas das teorias atualmente empregues na compreensão do fenômeno citadino e no planejamento urbano [1]: Elisée Reclus e Piotr Kropotkin. Para ambos, “anarquismo e geografia são uma combinação lógica” (DUNBAR, 1989, p. 78), seja enquanto filosofia política, seja enquanto fundamento epistemológico.
Kropotkin e Reclus veem na livre associação dos indivíduos e na solidariedade duas forças motrizes do desenvolvimento social, econômico, político e geográfico; por isto mesmo, são críticos acerbos de tudo quanto possa obstaculizar estas duas forças: Estado, capital, exploração do homem pelo homem, colonialismo, imperialismo, tirania e autoritarismo são temas constantes de seus ataques.
Por caminhos teóricos ligeiramente diferentes, Kropotkin e Reclus chegam à conclusão de que as cidades são um lugar de encontros e um espaço fértil para atuação política, por terem sido os lugares onde surgiram os embriões da democracia moderna – embora vejam no governo representativo e no Estado, mesmo o mais democrático, entraves à solidariedade e à livre associação dos indivíduos. Por terem sido quase vizinhos em seu exílio suíço (1877-1881), Kropotkin e Reclus influenciaram-se mutuamente, um “polindo” o entendimento do outro através do diálogo: Reclus dando foco mais social e ecológico à geografia física de Kropotkin, e este último conferindo à geografia social e ecológica de Reclus caráter mais comunal e mais atento no fenômeno urbano (WARD, 2010, p. 209-210).
1 Piotr Kropotkin e a revolução urbana na Europa
1.1 Breve biografia

Príncipe da dinastia ruríquida, senhora dos territórios da Rússia e Ucrânia entre 862 e 1610, Piotr Kropotkin (1843-1921) recusou o título aos 12 anos para tornar-se uma das figuras centrais do movimento anarquista no século XIX, e repreendia duramente os amigos que ainda o tratavam como se fosse nobre (BALDWIN, 1970, p. 13).
Quando jovem, na Rússia, esteve envolvido com atividades administrativas, militares e de corte; entre 1866 e 1872 dedicou-se a expedições científicas à Sibéria, tendo em seguida, numa viagem à Suíça, tido contato com o movimento operário, filiando-se à seção genebrina da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT).
Por influência de militantes da Federação do Jura suíço, ingressou no movimento anarquista, que não abandonou até sua morte. Voltou à Rússia ainda em 1872, e já em 1874 estava preso na fortaleza de Pedro e Paulo por sua atividade política com o Círculo Tchaikovsky. Tendo escapado das prisões russas em 1876, passou a viver no exílio, entre a França, Suíça e Inglaterra, sempre ativo no movimento anarquista então em pleno vigor.
Voltou à Rússia apenas em 1917 para colaborar com o processo revolucionário, mas a escalada dos bolcheviques ao poder através de um golpe de Estado fê-lo crítico acerbo desta forma de condução de um processo revolucionário – em conformidade com sua longa crítica a qualquer governo, mesmo revolucionário. Morto em 8 de fevereiro de 1921, seu funeral, em 13 de fevereiro, foi o último ato público de anarquistas durante a Revolução Russa; a Cheka, polícia política bolchevique, se encarregaria de aniquilá-los a partir de então.
1.2 As cidades medievais europeias como berço da democracia e do Estado modernos
Não cabe aqui fazer um inventário completo das ideias políticas e Kropotkin quando uma boa introdução ao assunto (WOODCOCK, 2002, pp. 207-250) ainda se encontra em catálogo editorial. Basta mencionar, introdutória e esquematicamente, que para Kropotkin tanto o feudalismo quanto o capitalismo criam escassez artificial e baseiam-se na força bruta e em privilégios; ele propôs um sistema político e econômico descentralizado, baseado no apoio mútuo e na cooperação voluntária, duas tendências que identificou como já presentes na vida social (KROPOTKIN, 2000, 2005, 2009, 2011).

Interessam, para os fins deste artigo, sobretudo as ideias de Kropotkin sobre as cidades e sua inter-relação, ainda mais justificadas quando sua obra geográfica não tem sido objeto do mesmo revival que a de seu amigo Élisée Reclus. Será necessário, como pano de fundo desta subseção, criticar duas opiniões. A primeira, mais comum, diz que Kropotkin teria sido fundamentalmente um geógrafo físico. O geógrafo Marcelo Lopes de Souza (2011, p. 10), após breve apresentação desta opinião, está também entre os que a criticam; não obstante a fama de Kropotkin como geógrafo físico ser merecida, por ter sido o primeiro a cartografar certas regiões do norte da Ásia (WARD, 2010, p. 214), ela espraia uma cortina de fumaça sobre sua não menos significante contribuição à geografia social presente em obras como Campos, fábricas e oficinas (KROPOTKIN, 1901) e A conquista do pão (KROPOTKIN, 2011), reconhecida por entusiastas de primeira hora como Lewis Mumford [2]. A segunda opinião, menos difundida, leva em conta a contribuição de Kropotkin à geografia social, mas quanto à questão urbana defende que “sua preocupação com a cidade é mais indireta” (VASCONCELOS, 2012, p. 71); a questão urbana, muito pelo contrário, está no cerne das preocupações de Kropotkin, quer no âmbito historiográfico, quer no âmbito geográfico, quer no âmbito político.
Kropotkin, geógrafo evolucionista e biólogo neolamarckista (ALSINO, 2012), e por isso mesmo muito atento ao desenvolvimento histórico da relação homem-meio, encontrou nas comunasurbanas europeias existentes entre os séculos X a XIV, herdeiras diretas das comunas rurais, tanto um antecessor cronológico das cidades modernas quanto uma base para a reflexão política de sua militância revolucionária.
As comunas urbanas e as primeiras cidades medievais eram, para Kropotkin, um modelo de resistência à tirania. Em várias passagens de sua obra (KROPOTKIN, 1901, 1955, 2000, 2005h, 2009, 2011) mostrou como estas comunas lutaram contra os senhores feudais, sendo em alguns momentos vitoriosas.
Para Kropotkin, as cidades medievais foram formadas por um lento e conflituoso desenvolvimento histórico, impulsionado por um conjunto de fatores em influência recíproca: a federação de vilarejos em prol da defesa comum contra inimigos externos (KROPOTKIN, 2009, p. 128); a restauração da paz interna em situações de desrespeito aos costumes, num embrião de função jurisdicional (idem, p. 120-131); o surgimento e consolidação das guildas e dos mercados (idem, p. ); a consolidação dos direitos fundamentais da posse comum da terra e daautojurisdição, que significava na prática autoadministração e autolegislação (idem, p. 133); e as conjurações, fraternidades e amizades, pactos políticos consolidados em cartas constitucionais, forjados na luta para “sacudir o jugo de seus senhores laicos e clericais” (idem, p. 132). O europeu medieval, para Kropotkin, seria “essencialmente federalista” (KROPOTKIN, 2000, p. 53), “preferia invariavelmente a paz à guerra” (KROPOTKIN, 2009, p. 128).

Em termos atuais, pode-se dizer que Kropotkin viu na história das cidades europeias medievais o espaço urbano como produto da associação de indivíduos em busca da libertação do jugo feudal e da dominação eclesial: “O principal objetivo da cidade medieval era o de garantir a liberdade, a autoadministração e a paz, e sua principal base, o trabalho” (KROPOTKIN, 2009, p. 142). Não apenas o espaço físico e o desenho urbano [3], como as instituições sociais criadas nestas cidades foram para ele resultados desta luta. A tese das cidades medievais como berço da democracia ocidental só veio a ser retomada – com as nuances hermenêuticas e idiossincráticas peculiares a cada autor – no início do século XX por Max Weber (2002, pp. 955-975) e Henri Pirenne (1927, 1969).
O final deste período de lutas libertárias teria sido determinado por um conjunto de fatores, também em influência recíproca, verificados por Kropotkin entre os séculos XIV e XVI. A partir da iniciativa de senhores feudais que, tendo acumulado mais riquezas que seus circunvizinhos, escolhiam como sede de seu domínio “um grupo de aldeias bem situadas e ainda sem a experiência da vida municipal livre” (KROPOTKIN, 2009, p. 168), surgiram as cidades nobres fortificadas, imitações tortas das cidades livres, às quais estes senhores feudais atraíam companheiros de armas (por distribuição de aldeias), mercadores (por privilégios ao comércio), juristas versados no direito romano e bispos. Estas cidades nobres, em constante conflito com as cidades livres, foram o embrião do Estado absolutista (idem, p. 169).
Soma-se a este fator a mudança da tática política da Igreja: ao invés da recalcitrante tentativa de criação de uma teocracia unificada, “bispos mais inteligentes e ambiciosos passaram a apoiar quem consideravam capazes de reconstituir o poder dos reis de Israel ou dos imperadores de Constantinopla” (idem, p. 169), espraiando-se assim entre os nobres como conselheiros, jurisconsultos e diplomatas.
Os camponeses ainda sob o jugo feudal, ao verem a incapacidade dos habitantes dos burgos para pôr fim às guerras entre cavaleiros, afiançavam sua liberdade agora àqueles nobres mais poderosos (idem, p. 169), cujas famílias – a família Kropotkin inclusive – no futuro seriam as mais poderosas dinastias absolutistas da Europa.
Havia também um fator interno, as “divisões que haviam surgido dentro das próprias cidades” (idem, p. 169): as famílias dos fundadores da cidade disputavam privilégios de comércio com as famílias de habitantes mais recentes; os citadinos, ou burgueses, não faziam questão de proteger as aldeias dos arredores, formadas por camponeses, a quem deixavam frequentemente sob o jugo de senhores feudais; mas para Kropotkin “o erro maior e mais fatal da maioria das cidades foi o de basear sua riqueza no comércio e na indústria, em detrimento da agricultura” (idem, p. 169), o que além de dificultar a integração com as aldeias circunvizinhas, fomentou o colonialismo e, como consequência, guerras coloniais consumidoras das riquezas citadinas [4].

Ao contrário do que se possa imaginar à primeira leitura, o retorno de Kropotkin às cidades medievais não era uma utopia regressiva, uma idealização do passado proposta como horizonte político, mas sim uma crítica historicista às utopias socialistas do século XIX: “não só as aspirações de nossos radicais modernos já eram realidade na Idade Média, assim como muito do que se chama hoje de utopia era comum naquela época” (KROPOTKIN, 2009, p. 157; HORNER, 1989, p. 142).
1.3 As cidades como palco privilegiado da luta de classes na Europa
A tese geográfico-política kropotkiniana, entretanto, não se encerra aí. As cidades europeias teriam sido palco desde o século XIV de uma luta encarniçada do “povo” contra os burgueses, senhores feudais, aristocratas e reis absolutistas pela defesa de suas liberdades e pelo uso comum da terra. Toda a história das revoluções europeias, para Kropotkin, explica-se por esta chave. A análise da Revolução Francesa feita por Kropotkin é exemplar neste sentido.
Para Kropotkin, a Revolução Francesa foi impulsionada não apenas pelos panfletos iluministas, mas pela decidida ação popular de libertação de obrigações feudais e de retomada de terras das mãos de senhores laicos e religiosos. Desabrochavam no seio das massas ideias “a respeito da descentralização política, do papel preponderante que o povo queria dar às suas municipalidades, às suas seções nas grandes cidades, e às assembleias de aldeia” (KROPOTKIN, 1955, vol. 1, p. 23). Ou ainda: “a revolta dos camponeses para a abolição dos direitos feudais e a reconquista das terras comunais tiradas às comunas aldeãs desde o século XVII pelos senhores laicos e eclesiásticos – eis a própria essência, a base da grande Revolução” (idem, p. 114). Ou então:
Em França, o movimento não foi somente um levante para conquistar a liberdade religiosa ou apenas a liberdade comercial e industrial para o indivíduo, ou ainda para constituir a autonomia municipal nas mãos de alguns burgueses. Foi, sobretudo, uma revolta dos camponeses: um movimento do povo para reentrar na posse da terra e a libertar das obrigações feudais que sobre ela pesavam; e além de haver nisso um poderoso elemento individualista – o desejo de possuir a terra individualmente – havia também o elemento comunista: o direito de toda nação à terra – direito que veremos altamente proclamado pelos pobres em 1793. (idem, pp. 116-117)

A luta de classes eclodiu também nas cidades. Na França do século XVIII, a autoridade real demorara duzentos anos para construir uma estrutura institucional capaz de submeter a seu jugo as cidades anteriormente livres; tais instituições – conselhos municipais vitalícios, direitos feudais, síndicos, almotacéis, direitos eclesiais de intervenção nas instituições municipais, isenções tributárias a membros da Igreja Católica e aristocratas etc. – encontravam-se em franca decrepitude às vésperas da Revolução Francesa (idem, pp. 118-120). Assim que a notícia da queda da Bastilha circulou pela província, o povo sublevou-se, apoderando-se dos Paços dos Conselhos e elegendo “uma nova municipalidade”; esta foi a base da revolução comunalista posteriormente sancionada pela Assembleia Constituinte em 1789 e 1790 (idem, p. 121). O “povo”, territorializado a partir dos distritos (arrondissements) de Paris e de outras cidades grandes, “fez a revolução nas localidades, estabelece revolucionariamente uma nova administração municipal, distingue entre os impostos que aceita e os que recusa pagar, e dita o modo de repartição igualitária daqueles que pagaria ao Estado ou à Comuna” (idem, p. 130).
Daí por diante, estabelecido o pano de fundo, a densa análise de Kropotkin, baseada em rigorosa pesquisa documental e arquivística [5], segue a mesma tônica. A Revolução Francesa é analisada em termos territoriais, e especificamente em sua expressão urbana. A luta dos habitantes das cidades contra as instituições feudais ressurgia, desta vez inaugurando na prática ocomunismo.
1.4 As cidades nos processos revolucionários
Mas é na passagem da sociedade capitalista para a sociedade anarquista – ou seja, durante a revolução – que Kropotkin apresenta vislumbres interessantes. Para ele, “a revolução social deve ser feita pela libertação das comunas, e (…) apenas as comunas, absolutamente independentes, libertas da tutela do Estado (…) poderão nos dar o meio necessário à revolução e o meio de realizá-la (…)” (KROPOTKIN, 2005a, p. 91). Pontuou, na esteira de suas análises histórico-geográficas posteriores ao período medieval, que a revolução das comunas não se tratava de simples retorno à comuna medieval, mas sim da construção de uma nova comuna que, devido à ciência e à tecnologia de então, seria “um fato absolutamente novo, situado em novas condições e que, sem dúvida, traria consequências totalmente diferentes” (idem, p. 91), e que “deve destruir o Estado e substituí-lo pela federação” (idem, p. 93). Neste processo, Kropotkin mostra atenção para as relações “cidade-província”, para que as cidades não fiquem desabastecidas (KROPOTKIN, 2011, p. 53). Tal como se verá adiante e com mais detalhe sobre Élisée Reclus, Kropotkin já intuía entre 1880 e 1882 aquilo que só na década de 1930 veio a ser chamado de rede urbana, dando-lhe o nome de federação de comunas e projetando-a no futuro a partir de tendências do presente:
Graças à infinita variedade das necessidades da indústria e do comércio, todos os lugares habitados já possuem vários centros aos quais se ligam, e, à medida que suas necessidades desenvolverem-se, ligar-se-ão a novos centros, que poderão prover às novas necessidades. (…) A comuna sentirá, portanto, necessidade de estabelecer outros contratos de aliança, entrar para outra federação. Membro de um grupo para aquisição de gêneros alimentícios, a comuna deverá tornar-se membro de um segundo grupo para obter outros objetos que lhe serão necessários (…). Tomai um atlas econômico de qualquer país e vereis que não existem fronteiras econômicas; as zonas de produção e de troca de diversos produtos penetram-se mutuamente, confundem-se, superpõem-se. Do mesmo modo, as federações de comunas, se seguissem seu livre desenvolvimento, viriam rápido confundir-se, cruzar-se, superpor-se e formar, assim, uma rede de maneira diversamente compacta, “una e indivisível”, daqueles agrupamentos estatistas, que são apenas justapostos como as varas em feixe em torno da machadinha do lictor. (…) [A] íntima ligação já existe entre as diversas localidades, graças aos centros de gravitação industrial e comercial, graças a um grande número destes centros, graças às incessantes relações (KROPOTKIN, 2005a, pp. 97-98).
A este nível territorial da federação de comunas soma-se outro, ligado aos interesses dos indivíduos, apto a formar “uma comuna de interesses cujos membros estão disseminados em mil cidades e vilarejos” (KROPOTKIN, 2005a, p. 99); trata-se das associações, cooperativas e todas as outras formas de sociedades livremente constituídas para a atividade humana – ou seja, aquilo que, usando um vocabulário contemporâneo, se chamaria sem equívoco de sociedade civil – verdadeira “tendência, o traço distintivo da segunda metade do século XIX” (idem, ibidem) que ocupava “a cada dia novos campos de ação, até aqueles que, outrora, eram considerados como uma atribuição especial do Estado” (idem, ibidem). A convergência entre ascomunas territoriais e as comunas de interesse formava o solo onde a propaganda feita pelas minorias revolucionárias, ao romper com preconceitos políticos arraigados no seio do povo, germinaria em ações revolucionárias cujos fins últimos são a abolição do Estado, dos privilégios e da exploração (KROPOTKIN, 2005 e, 2005f, 2005g).

E a questão urbana, mais especificamente a questão da moradia, é um dos pontos, para Kropotkin, por onde pode-se começar a ação revolucionária. Plenamente consciente dos mecanismos de formação da renda fundiária urbana, Kropotkin deslegitimou-a, pois não somente as vantagens locacionais capazes de valorizar imóveis seriam resultado pura e simplesmente de um trabalho coletivo a que o proprietário do imóvel não deu causa e do qual se beneficia, como o próprio imóvel seria resultado de trabalho alheio indevidamente apropriado:
Finalmente – e é aqui sobretudo que a enormidade salta aos olhos – a casa deve o seu valor atual ao rendimento que o proprietário puder tirar dela. Ora, esse rendimento será devido à circunstância de a propriedade estar edificada em uma cidade calçada, iluminada a gás, em comunicação regular com outras cidades e reunindo no deu seio estabelecimentos de indústria, de comércio, de ciência, de arte; ao fato de esta cidade ser ornada de pontes, de cais, de monumentos, de arquitetura, oferecendo aos habitantes muitos confortos e muitos agrados desconhecidos nas aldeias; ao fato de que 20, 30 gerações têm trabalhado para a tornar habitável, saneá-la e embelezá-la.
O valor de uma casa em certos bairros de Paris é 1.000.000, não que nas suas paredes haja 1.000.000 em trabalho, mas porque está em Paris; porque desde séculos, os operários, os artistas, os pensadores, os sábios e os literatos têm contribuído para fazer Paris o que ela é hoje; um centro industrial, comercial, político, artístico e científico; porque tem um passado; porque as suas ruas são conhecidas graças à literatura, na província como no estrangeiro; porque é o produto de um trabalho de 18 séculos, de 50 gerações, de toda a nação francesa.
Quem, pois, tem o direito de se apropriar da mais ínfima parcela desse terreno ou da última das construções, sem cometer uma clamorosa injustiça?
Quem tem o direito de vender, seja a quem for, a menor parcela do patrimônio comum? (KROPOTKIN, 2011, pp 59-60)

A solução deste problema, para Kropotkin, é o alojamento gratuito, como proposta pós-revolucionária, e a expropriação das casas, como ação revolucionária imediata. Na verdade, Kropotkin não fez nada além de sistematizar e discutir a prática, já existente no século XIX:
Repugna-nos traçar nos seus menores detalhes planos de expropriação. […] Assim, esboçando o método segundo o qual a expropriação e a repartição das riquezas expropriadas “poderiam” fazer-se sem a intervenção do governo, não queremos senão responder aos que declaram a coisa impossível. […] O que somente nos importa é demonstrar que a expropriação “pode” fazer-se pela iniciativa popular e “não pode” fazer-se de outro modo.
É de prever que, desde os primeiros atos de expropriação, surgirão no bairro, na rua ou no agregado de casas, grupos de cidadãos de boa vontade, que virão oferecer os seus serviços para se informarem do número de apartamentos vazios, dos apartamentos atulhados de famílias numerosas, dos alojamentos insalubres e das casas que, demasiado espaçosas para os seus ocupantes, poderiam ser ocupadas por aqueles que não têm ar em seus casebres. Em alguns dias, esses voluntários espalharão pela rua, pelo bairro, listas completas de todos os apartamentos, salubres e insalubres, estreitos e largos, alojamentos infectos e moradias suntuosas.
Comunicarão livremente entre si as suas listas e em poucos dias terão estatísticas completas. […]
Então, sem esperar coisa alguma de ninguém, esses cidadãos irão provavelmente encontrar os seus camaradas que habitam espeluncas e lhes dirão muito simplesmente: “Desta vez, camaradas, é a Revolução a valer. Venham esta tarde a tal lugar. Todo o bairro lá estará, repartiremos os apartamentos de cinco peças que estão disponíveis. E logo que estiverdes “em casa”, será negócio feito. O povo armado responderá a quem quiser desalojar-nos. (KROPOTKIN, 2011, pp. 61-62)
De um só golpe, Kropotkin antecipou em quase cem anos – o texto é de 1892 – conceitos criados no contexto do movimento de reforma urbana, como o défice habitacional quantitativo e qualitativo, a retenção especulativa de imóveis, a discussão sobre a destinação dos imóveis vazios, a ocupação de imóveis cujos proprietários não lhes dão função social e o método de ação dos movimentos de luta por moradia. Não estamos tão longe dele quanto se poderia supor. Kropotkin influenciou diretamente, por exemplo, a campanha de ocupação de bases militares para moradia na Inglaterra, em 1946, e as ideias de John Turner sobre a autoconstrução em Lima (Peru) (WARD, 1996, pp. 67-73).
1.5 Um balanço
Como se vê, o pensamento político de Kropotkin não lida com conceitos e categorias abstratas ou idealizadas; enraíza-os num meio geográfico, territorializa-os. A relação homem-meio, sociedade-natureza, é vista por Kropotkin como um todo unitário, pleno de relações biunívocas e complexas.
O espaço, em Kropotkin, é produto também do desenvolvimento histórico, e a História se desenvolve no espaço. O espaço urbano do passado e do porvir – como qualquer outro espaço – é, também, fruto de lutas sociais, em especial quando as cidades são o palco principal das lutas pela liberdade.
Por isso, a questão urbana, em Kropotkin, pode ser vista como o conjunto dos fatores que obstaculizam o pleno desenvolvimento dos indivíduos e sua livre organização nas cidades, fatores estes que variam em cada momento histórico; o conhecimento destes fatores só pode se dar através da pesquisa histórica da produção e do uso do espaço de cada cidade e das lutas em torno desta produção e deste uso, na tentativa de produzir sínteses orientadoras da ação política.
Leia aqui a segunda parte deste artigo.
Notas
[1] Não por acaso Patrick Geddes, um dos fundadores do planejamento regional e urbano modernos, foi amigo e discípulo dos dois (DUNBAR, 1989, pp. 89-90; HALL, 2007, pp. 161-170).
[2] Lewis Mumford considerava Piotr Kropotkin “inteligência sociológica e econômica de primeira ordem, baseada na competência especializada […] como geógrafo, e na sua generosa paixão social como líder do anarquismo comunista” (MUMFORD, 1998, p. 658). Fez comentários entusiásticos a dois livros de Piotr Kropotkin em sua obra A cidade na história: sobre Campos, fábricas e oficinas, disse ser “recomendado especialmente a todos os que se interessam em planejar para áreas não-desenvolvidas” (idem, ibidem); sobre O apoio mútuo, disse ser “obra pioneira sobre a simbiose na sociologia; uma das primeiras tentativas para reformar a unilateral ênfase darwiniana nos aspectos mais predatórios da vida. Note-se o capítulo sobre Ajuda Mútua na Cidade Medieval” (idem, ibidem).
[3] “Geralmente a cidade era dividida em quatro partes, ou em cinco a sete setores que se irradiavam de um centro, e cada um deles correspondia mais ou menos a um certo comércio ou ofício que nele prevalecia, mas continha habitantes de diferentes posições sociais e ocupações – nobres, comerciantes, artesãos ou mesmo semisservos. Cada setor ou parte constituía um aglomerado bem independente. […] Portanto, a cidade medieval é uma dupla federação: de todos os domicílios unidos em pequenas associações territoriais – a rua, a paróquia, o setor – e de indivíduos ligados por juramento em corporações de ofício. A primeira foi resultante da origem na comunidade aldeã e a segunda, uma ramificação subsequente gerada por novas condições” (KROPOTKIN, 2009, p. 142).
[4] “Colônias foram fundadas pelos italianos no sudeste, pelas cidades alemãs no leste, pelas eslavas no extremo nordeste. Passaram a existir exércitos mercenários para as guerras coloniais, e logo também para a defesa local” (KROPOTKIN, 2009, p. 170).
[5] Num artigo escrito entre 1880 e 1882, Kropotkin explicitou o método que resultou na obra A grande revolução: “Quanto às insurreições, que precederam a revolução e sucederam-se durante o primeiro ano, o pouco que posso dizer disso, neste espaço restrito, é o resultado de um trabalho de conjunto, que realizei em 1877 e 1878, no Museu Britânico e na Biblioteca Nacional [da França], trabalho que ainda não terminei, e no qual me propunha expor as origens da revolução e de outros movimentos na Europa. Aqueles que quiserem lançar-se neste estudo deverão consultar (além das obras conhecidas […]) as memórias e as histórias locais […]. Entretanto, não devem contar com o fato de poder reconstituir, só com estes documentos, uma história completa das insurreições, que precederam a revolução. Para fazê-lo, só há um meio: dirigir-se aos arquivos, onde, apesar da destruição dos documentos feudais, ordenada pela Convenção, acabar-se-á, com certeza, por encontrar fatos muito importantes” (KROPOTKIN, 2005f, nota 27).
Referências bibliográficas
ALSINO, Rodolfo. “Evolución y apoyo mutuo: Kropotkin em el contexto de las teorías evolutivas”. Erosión: revista de pensamiento anarquista, ano 1, nº 1, jul.-dez. 2012, pp. 29-41.
BALDWIN, Roger N. “The Story of Kropotkin’s Life”. In: _____________ (org.). Kropotkin’s anarchism: a collection of revolutionary writings. Mineola: Dover, 1970.
DUNBAR, Gary. “Elisée Reclus, geógrafo y anarquista”. In: PEET, Richard (org.). Anarquismo y geografía. Madrid: Oikos-Tau, 1989, pp. 77-90.
HALL, Peter. Cidades do amanhã: uma história intelectual do planejamento e do projeto urbanos no século XX. São Paulo: Perspectiva, 2007.
HORNER, G. M. “Kropotkin y la ciudad: el ideal socialista en urbanismo”. PEET, Richard (org.). Anarquismo y geografía. Madrid: Oikos-Tau, 1989, pp. 123-154.
KROPOTKIN, Piotr. Fields, factories and workshops, or industry combined with agriculture and brain work with manual work. 2ª ed. Nova Iorque: G. P. Putnam Sons, 1901.
_____________. A grande revolução 1789-1793. 2 vols. Salvador: Progresso, 1955.
_____________. O Estado e seu papel histórico. São Paulo: Imaginário/NU-SOL/Soma, 2000.
_____________. “A comuna”. In: _____________. Palavras de um revoltado. São Paulo: Imaginário/Ícone, 2005a, pp. 91-100.
_____________. “A comuna de Paris”. In: _____________. Palavras de um revoltado. São Paulo: Imaginário/Ícone, 2005b, pp. 101-115.
_____________. “A decomposição dos Estados”. In: _____________. Palavras de um revoltado. São Paulo: Imaginário/Ícone, 2005c, pp. 27-31.
_____________. “A lei e a autoridade”. In: _____________. Palavras de um revoltado. São Paulo: Imaginário/Ícone, 2005d, pp. 163-184.
_____________. “As minorias revolucionárias” In: _____________. Palavras de um revoltado. São Paulo: Imaginário/Ícone, 2005e, pp.
_____________. “O espírito de revolta”. In: _____________. Palavras de um revoltado. São Paulo: Imaginário/Ícone, 2005f, pp. 205-223.
_____________. “O governo representativo” In: _____________. Palavras de um revoltado. São Paulo: Imaginário/Ícone, 2005g, pp. 133-162.
_____________. Palavras de um revoltado. São Paulo: Imaginário/Ícone, 2005h.
_____________. A ajuda mútua: um fator de evolução. São Sebastião: A Senhora, 2009.
_____________. A conquista do pão. 2ª ed. revista. Rio de Janeiro: Achiamé, 2011.
MUMFORD, Lewis. A cidade na História: suas origens, transformações e perspectivas. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
PIRENNE, Henri. Les villes du Moyen Age: essai d’Histoire économique et sociale. Bruxelas: Maurice Lamertin, 1927.
_____________. Histoire économique et sociale du Moyen Age. 2ª ed. Paris: Presses Universitaires de France, 1969.
SOUZA, Marcelo Lopes de. “Uma geografia marginal e sua atualidade: a linhagem libertária”. Texto apresentado durante o Primeiro Colóquio Território Autônomo (UFRJ, 26 e 27 de outubro de 2010). Disponível na internet: http://territorioautonomo.files.wordpress.com/2010/10/uma-geografia-marginal-e-sua-atualidade2.pdf . Acesso em 15 mai. 2014.
VASCONCELOS, Pedro de Almeida. Dois séculos de pensamento sobre a cidade. 2ª ed. rev. atual. Salvador: EdUFBA/Editus, 2012.
WARD, Colin. Anarchy in action. Londres: Freedom, 1996.
_____________. Talking houses: ten lectures by Colin Ward. Londres: Freedom, 1990.
_____________. Anarchy in action. Londres: Freedom, 1996.
WARD, Dana. “Alchemy in Clarens: Kropotkin and Reclus, 1877-1881”. In: JUN, Nathan J.; WAHL, Shane (orgs.). New perspectives on anarchism. Plymouth: Lexington, 2010, pp. 209-277.
WEBER, Max. Economía y sociedad: esbozo de sociología compreensiva. 2ª ed., 2ª reimpr. Madri: Fondo de Cultura Económica, 2002.
WOODCOCK, George. História das ideias e movimentos anarquistas, vol. 1: a ideia. 2ª ed. Porto Alegre: L&PM, 2002.
_____________. História das ideias e movimentos anarquistas, vol 2: o movimento. 2ª ed. Porto Alegre: L&PM, 2008.